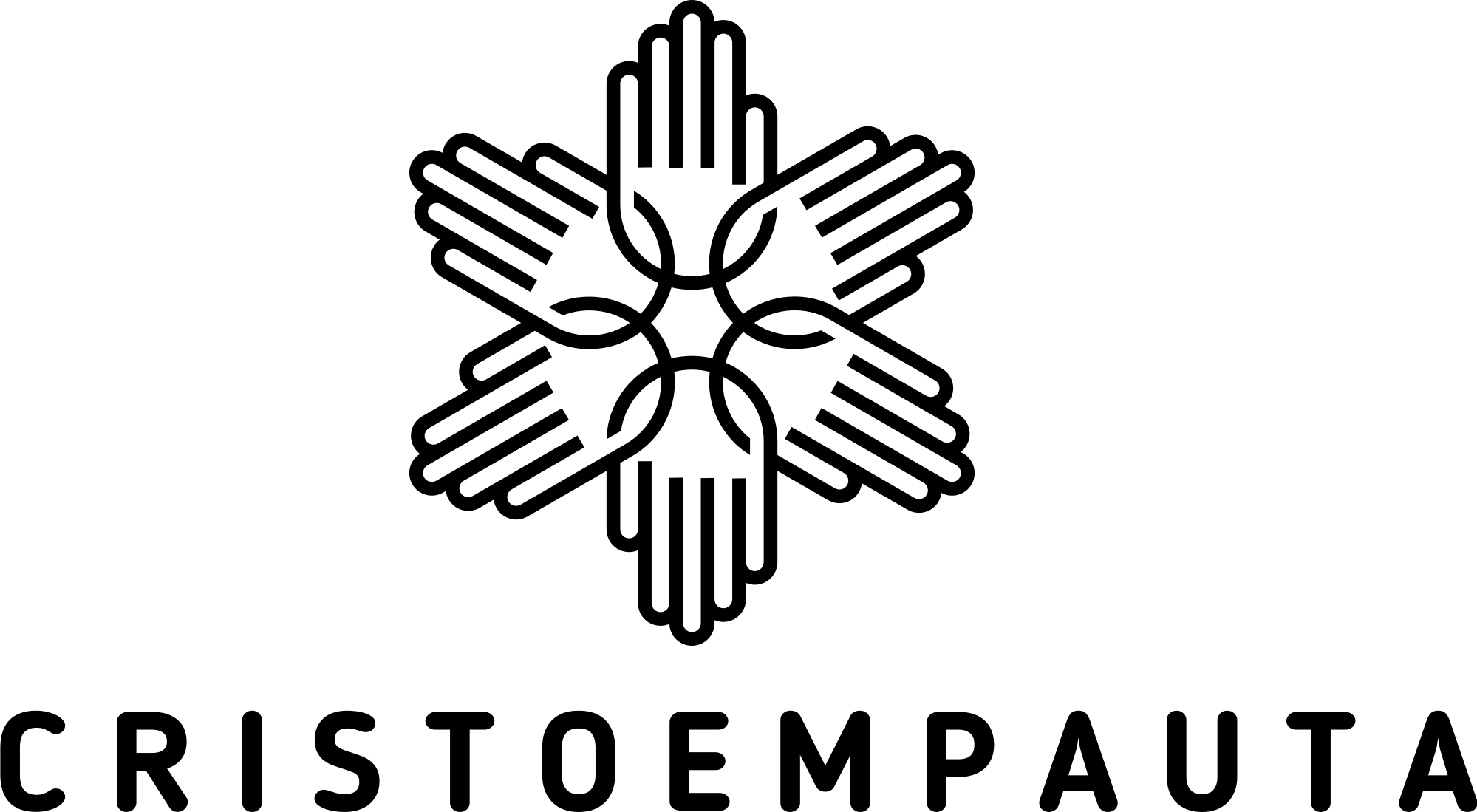Jesus, também conhecido como Jesus Cristo, Jesus de Nazaré ou Jesus da Galileia, (nascido por volta de 6-4 a.C., em Belém – falecido por volta de 30 d.C., em Jerusalém), é um líder religioso reverenciado no Cristianismo, uma das principais religiões do mundo. Ele é considerado pela maioria dos cristãos como a Encarnação de Deus. A história da reflexão cristã sobre os ensinamentos e a natureza de Jesus é examinada no artigo sobre Cristologia.
Nome e Título
Os judeus antigos geralmente tinham apenas um nome e, quando maior especificidade era necessária, era costume adicionar o nome do pai ou o local de origem. Assim, durante sua vida, Jesus era chamado de Jesus, filho de José (Lucas 4:22; João 1:45, 6:42), Jesus de Nazaré (Atos 10:38) ou Jesus, o Nazareno (Marcos 1:24; Lucas 24:19). Após sua morte, ele passou a ser chamado de Jesus Cristo. Cristo não era originalmente um nome, mas um título derivado da palavra grega christos, que traduz o termo hebraico meshiah (Messias), significando “o ungido”. Este título indica que os seguidores de Jesus acreditavam que ele era o filho ungido do Rei Davi, que alguns judeus esperavam que restaurasse a sorte de Israel. Passagens como Atos dos Apóstolos 2:36 mostram que alguns escritores cristãos primitivos sabiam que Cristo era propriamente um título, mas em muitas passagens do Novo Testamento, incluindo aquelas nas cartas do Apóstolo Paulo, o nome e título são combinados e usados juntos como o nome de Jesus: Jesus Cristo ou Cristo Jesus (Romanos 1:1; 3:24). Às vezes, Paulo simplesmente usava Cristo como nome de Jesus (por exemplo, Romanos 5:6).
Resumo da Vida de Jesus
Santa Família
“Árvore de Jessé”
Embora tenha nascido em Belém, de acordo com Mateus e Lucas, Jesus era um galileu de Nazaré, uma vila perto de Sepphoris, uma das duas principais cidades da Galileia (a outra era Tiberíades). Ele nasceu de José e Maria em algum momento entre 6 a.C. e pouco antes da morte de Herodes, o Grande, em 4 a.C. (Mateus 2; Lucas 1:5). No entanto, de acordo com Mateus e Lucas, José era apenas seu pai legal. Eles relatam que Maria era virgem quando Jesus foi concebido e que ela “foi achada grávida pelo Espírito Santo” (Mateus 1:18; cf. Lucas 1:35). Diz-se que José era um carpinteiro (Mateus 13:55) – ou seja, um artesão que trabalhava com as mãos – e, de acordo com Marcos 6:3, Jesus também se tornou carpinteiro.

Lucas (2:41-52) afirma que Jesus, quando jovem, era precoce e aprendeu rapidamente, mas não há outras evidências de sua infância ou vida inicial. Como jovem adulto, ele foi batizado pelo profeta João Batista e logo depois tornou-se pregador itinerante e curador (Marcos 1:2-28). Em sua meia-idade, por volta dos 30 anos, Jesus teve uma curta carreira pública, durando talvez menos de um ano, durante a qual atraiu considerável atenção. Em algum momento entre 29 e 33 EC – possivelmente em 30 EC -, ele foi a Jerusalém para celebrar a Páscoa, onde sua entrada, de acordo com os Evangelhos, foi triunfante e cheia de significado escatológico. Enquanto estava lá, foi preso, julgado e executado. Seus discípulos ficaram convencidos de que ele ressuscitou dos mortos e apareceu a eles. Eles converteram outras pessoas a acreditar nele, o que eventualmente levou ao surgimento de uma nova religião, o Cristianismo.

A Palestina Judaica na Época de Jesus
A Situação Política Palestina:
Era Romana Palestina na época de Jesus fazia parte do Império Romano, que controlava seus diversos territórios de várias maneiras. No Oriente (parte oriental da Ásia Menor, Síria, Palestina e Egito), os territórios eram governados por reis que eram “amigos e aliados” de Roma (geralmente chamados de reis “clientes” ou, de forma mais depreciativa, reis “marionetes”) ou por governadores apoiados por um exército romano. Quando Jesus nasceu, toda a Palestina Judaica, assim como algumas áreas vizinhas de não judeus, era governada por Herodes, o Grande, hábil “amigo e aliado” de Roma. Para Roma, a Palestina era importante não por si só, mas porque ficava entre a Síria e o Egito, duas das possessões mais valiosas de Roma. Roma tinha legiões em ambos os países, mas não na Palestina. A política imperial romana exigia que a Palestina fosse leal e pacífica para que não prejudicasse os interesses maiores de Roma. Esse objetivo foi alcançado por muito tempo permitindo que Herodes permanecesse como rei da Judeia (37-4 a.C.) e dando-lhe total liberdade para governar seu reino, desde que os requisitos de estabilidade e lealdade fossem atendidos.
Quando Herodes morreu pouco depois do nascimento de Jesus, seu reino foi dividido em cinco partes. A maioria das áreas não judias foi separada das áreas judias, que foram divididas entre dois dos filhos de Herodes: Herodes Arquelau, que recebeu a Judeia e a Idumeia (bem como Samaria, que não era judia), e Herodes Antipas, que recebeu a Galileia e Perea. (No Novo Testamento, Antipas é um tanto confusamente chamado de Herodes, como em Lucas 23:6-12; aparentemente, os filhos de Herodes adotaram seu nome, assim como os sucessores de Júlio César eram comumente chamados de César.) Ambos os filhos receberam títulos menores do que rei: Arquelau era etnarca, e Antipas era tetrarca. As áreas não judias (exceto Samaria) foram atribuídas a um terceiro filho, Filipe, à irmã de Herodes, Salomé, ou à província da Síria. No entanto, o imperador Augusto depôs o insatisfatório Arquelau em 6 EC e transformou a Judeia, a Idumeia e Samaria de um reino cliente em uma “província imperial”. Dessa forma, ele enviou um prefeito para governar essa província. Esse pequeno aristocrata romano (mais tarde chamado de procurador) era apoiado por um pequeno exército romano de aproximadamente 3.000 homens. Os soldados, no entanto, não eram da Itália, mas de cidades vizinhas de não judeus, especialmente Cesareia e Sebaste; presumivelmente, os oficiais eram da Itália. Durante a carreira pública de Jesus, o prefeito romano foi Pôncio Pilatos (governou de 26 a 36 EC).

Apesar de ser nominalmente responsável por Judéia, Samaria e Iduméia, o prefeito não governava diretamente sua área. Em vez disso, ele dependia de líderes locais. O prefeito e seu pequeno exército viviam na cidade predominantemente não judia de Cesareia, na costa do Mediterrâneo, a cerca de dois dias de marcha de Jerusalém. Eles vinham a Jerusalém apenas para garantir a paz durante os festivais de peregrinação – Páscoa, Semanas (Shabuoth) e Cabanas (Sukkoth) – quando grandes multidões e temas patrióticos às vezes se combinavam para provocar agitação ou revoltas. No dia a dia, Jerusalém era governada pelo sumo sacerdote. Auxiliado por um conselho, ele tinha a difícil tarefa de mediar entre o distante prefeito romano e a população local, que era hostil aos pagãos e desejava se livrar da interferência estrangeira. Sua responsabilidade política era manter a ordem e garantir o pagamento de tributos. Caifás, o sumo sacerdote durante a vida adulta de Jesus, ocupou o cargo de cerca de 18 a 36 EC, mais tempo do que qualquer outra pessoa durante o período romano, indicando que ele era um diplomata bem-sucedido e confiável. Como ele e Pilatos estavam no poder juntos por 10 anos, eles devem ter colaborado com sucesso.
Assim, no período da carreira pública de Jesus, a Galileia era governada pelo tetrarca Antipas, que era soberano dentro de seu próprio domínio, contanto que permanecesse leal a Roma e mantivesse a paz e a estabilidade dentro de suas fronteiras. A Judéia (incluindo Jerusalém) era nominalmente governada por Pilatos, mas o governo diário real de Jerusalém estava nas mãos de Caifás e seu conselho.
Relações entre áreas judias e áreas não judias próximas
A Galileia e a Judéia, as principais áreas judias da Palestina, estavam cercadas por territórios não judios (ou seja, Cesareia, Dora e Ptolemaida na costa do Mediterrâneo; Cesareia de Filipe ao norte da Galileia; e Hipos e Gadara a leste da Galileia). Também havia duas cidades não judias no interior, no lado oeste do rio Jordão, perto da Galileia (Escitópolis e Sebaste). A proximidade entre áreas judias e não judias significava que havia algum intercâmbio entre elas, incluindo o comércio, o que explica por que Antipas tinha telōnēs – frequentemente traduzidos como “cobradores de impostos”, mas mais precisamente como “agentes alfandegários” – nas aldeias do seu lado do Mar da Galileia. Também havia algum intercâmbio de populações: alguns judeus viviam em cidades não judias, como Escitópolis, e alguns não judeus viviam em pelo menos uma das cidades judias, Tiberíades. Provavelmente, os comerciantes e negociantes judeus podiam falar um pouco de grego, mas a língua principal dos judeus palestinos era o aramaico (uma língua semita intimamente relacionada ao hebraico). Por outro lado, os judeus resistiam ao paganismo e excluíam templos para o culto dos deuses da Grécia e Roma de suas cidades, juntamente com as instituições educacionais gregas, como a ephebeia e o gymnasion, competições de gladiadores e outros edifícios ou instituições típicas de áreas não judias. Porque as relações entre judeus e não judeus na terra que os judeus consideravam sua própria terra frequentemente eram tensas, as áreas judias geralmente eram governadas separadamente das áreas não judias. O reinado de Herodes, o Grande, foi uma exceção a essa regra, mas mesmo ele tratava as partes judias e não judias de seu reino de maneira diferente, promovendo a cultura greco-romana nos setores não judios, mas introduzindo apenas aspectos muito menores disso nas áreas judias.
No século I, Roma não mostrava interesse em fazer com que os judeus na Palestina e em outras partes do império se conformassem à cultura greco-romana comum. Uma série de decretos de Júlio César, Augusto, do Senado Romano e de vários conselhos municipais permitia que os judeus mantivessem seus próprios costumes, mesmo quando eram contrários à cultura greco-romana. Por exemplo, em respeito à observância judaica do sábado, Roma isentava os judeus do recrutamento nos exércitos romanos. Roma também não colonizou a Palestina judaica. Augusto estabeleceu colônias em outras regiões (no sul da França, Espanha, Norte da África e Ásia Menor), mas antes da Primeira Revolta Judaica (66-74 EC), Roma não estabeleceu colônias na Palestina judaica. Poucos gentios individuais de outros lugares teriam sido atraídos para viver em cidades judaicas, onde teriam sido isolados de seus cultos e atividades culturais habituais. Os gentios que viviam em Tiberíades e outras cidades judaicas provavelmente eram naturais de cidades vizinhas não judias, e muitos eram sírios, que provavelmente podiam falar tanto aramaico quanto grego.
Condições Econômicas
Na antiguidade, a maioria das pessoas produzia alimentos, roupas ou ambos e podia se dar ao luxo de poucos luxos. No entanto, a maioria dos fazendeiros e pastores judeus palestinos ganhava o suficiente para sustentar suas famílias, pagar impostos, fazer sacrifícios durante um ou mais festivais anuais e deixar suas terras em pousio nos anos sabáticos, quando o cultivo era proibido. A Galileia, em particular, era relativamente próspera, pois a terra e o clima permitiam colheitas abundantes e sustentavam muitas ovelhas. Embora seja duvidoso que a Galileia fosse tão rica no século I como foi durante os períodos romano tardio e bizantino, os restos arqueológicos dos séculos III, IV e V confirmam a plausibilidade das referências do século I à prosperidade da região. Claro, havia pessoas sem terra, mas a dinastia Herodiana tomou cuidado para organizar grandes projetos de obras públicas que empregavam milhares de homens. A pobreza desesperada também estava presente, mas nunca atingiu um nível socialmente perigoso. No outro extremo do espectro econômico, poucos, se algum, judeus palestinos tinham as vastas fortunas que os comerciantes bem-sucedidos nas cidades portuárias poderiam acumular. No entanto, havia aristocratas judeus com grandes propriedades e casas grandiosas, e os comerciantes que serviam ao Templo (fornecendo, por exemplo, incenso e tecidos) podiam se tornar muito prósperos. A disparidade entre ricos e pobres na Palestina era evidente e angustiante para os pobres, mas, em comparação com o resto do mundo, não era especialmente ampla.
A Religião Judaica no Século I
O Judaísmo, como a religião judaica passou a ser conhecida no século I EC, era baseado na religião antiga de Israel, desprovida de muitas de suas características cananeias, mas com a adição de importantes elementos da Babilônia e Pérsia. Os judeus diferiam de outras pessoas no mundo antigo porque acreditavam que existia apenas um Deus. Assim como outros povos, eles adoravam seu Deus com sacrifícios de animais oferecidos em um templo, mas, ao contrário dos outros, eles tinham apenas um templo, que estava em Jerusalém. O santuário do templo judaico tinha dois cômodos, como muitos dos outros templos no mundo antigo, mas o segundo cômodo do templo judaico estava vazio. Não havia ídolo representando o Deus de Israel. Os judeus também acreditavam que haviam sido especialmente escolhidos pelo único Deus do universo para servi-lo e obedecer às suas leis. Apesar de serem separados dos outros povos, acreditavam que Deus os chamava para serem uma “luz para os gentios” e conduzi-los a aceitar o Deus de Israel como o único Deus.
Uma parte importante das Escrituras Judaicas era a Torá, ou Pentateuco, que compreendia cinco livros (Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio) que se acreditava terem sido dados a Moisés por Deus. Para os judeus e seus descendentes espirituais, esses livros continham a lei de Deus, que abrangia muitos aspectos da vida cotidiana: exigia que os homens fossem circuncidados, regulava a dieta, estipulava dias de descanso tanto para humanos quanto para animais (sábados e dias de festa), exigia peregrinação e sacrifícios, estipulava recompensas e expiações após transgressões e especificava impurezas e purificações necessárias antes de entrar no Templo. Além disso, fornecia tanto regras quanto princípios para o tratamento de outras pessoas: por exemplo, exigia o uso de pesos e medidas honestos no comércio e pregava o “amor” (ou seja, tratamento justo) tanto aos compatriotas judeus quanto aos estrangeiros (Levítico 19). As leis que regiam o culto (sacrifício, purificação, entrada no Templo, entre outros) eram semelhantes às leis religiosas de outros povos no mundo antigo. O Judaísmo era diferente porque, na maioria das outras culturas, a lei divina cobria apenas esses tópicos, mas no Judaísmo ela regulamentava não apenas o culto, mas também a vida diária, tornando cada aspecto da vida uma questão de preocupação divina.
Como tanto a fé quanto a prática eram baseadas firmemente nos cinco livros de Moisés, modificados ligeiramente ao longo do tempo, eles eram compartilhados por judeus em todo o mundo, desde a Mesopotâmia até a Itália e além. As características comuns da fé e prática judaicas são refletidas nos decretos de várias partes do mundo antigo que permitiam aos judeus preservar suas próprias tradições, incluindo o monoteísmo, o descanso e a reunião no sábado, o apoio ao Templo e as leis dietéticas. Havia, naturalmente, variações em cada tema principal. Na Palestina judaica, por exemplo, havia três pequenos, mas importantes, partidos religiosos que diferiam entre si em várias maneiras: os Fariseus (cerca de 6.000 na época de Herodes), Essênios (cerca de 4.000) e Saduceus (“alguns homens”, de acordo com Flávio Josefo, em “As Antiguidades dos Judeus” 18.17). Um grupo em grande parte laico, que tinha a reputação de ser o mais preciso intérprete da lei, os Fariseus acreditavam na ressurreição dos mortos. Eles também dependiam das “tradições dos pais”, não bíblicas, algumas das quais tornavam a lei mais rigorosa, enquanto outras a relaxavam. Os Essênios eram uma seita mais radical, com regras extremamente rígidas. Um ramo do grupo vivia em Qumran, às margens do Mar Morto, e produziu os Manuscritos do Mar Morto. Em algum ponto de sua história, os Essênios provavelmente foram uma seita sacerdotal (os sacerdotes Zadokitas são figuras importantes em alguns dos documentos de Qumran); no entanto, a composição de seus membros na época de Jesus é incerta. Muitos sacerdotes aristocráticos, assim como alguns leigos proeminentes, eram Saduceus. Eles rejeitavam as “tradições dos pais” farisaicas e mantinham algumas opiniões teológicas antiquadas. Mais famosamente, negavam a ressurreição, que havia entrado recentemente no pensamento judaico vindo da Pérsia e que foi aceita pela maioria dos judeus no século I.
A maioria dos judeus baseava sua fé e prática nos cinco livros de Moisés (ligeiramente modificados pelo passar do tempo) e rejeitava as posições extremas dos três partidos. Os Fariseus eram respeitados por sua piedade e conhecimento, e podem ter exercido uma influência substancial nas crenças e práticas. Os Essênios eram um grupo marginal, e aqueles que viviam em Qumran haviam se afastado do judaísmo mainstream. Sua interpretação da Bíblia os levou a rejeitar os sacerdotes e o Templo conforme existiam em Jerusalém, e eles esperavam o momento em que poderiam assumir o controle da Cidade Santa. Até onde esses partidos tinham poder, ele pertencia aos Saduceus. Mais precisamente, os sacerdotes aristocratas e alguns leigos proeminentes tinham poder e autoridade em Jerusalém; daqueles aristocratas que pertenciam a um dos partidos, a maioria eram Saduceus. De acordo com os Atos dos Apóstolos (5:17), aqueles que estavam ao redor do sumo sacerdote Caifás eram Saduceus, o que lembra a evidência do sacerdote aristocrata judeu, historiador e fariseu Josefo.
Fontes para a vida de Jesus
“São Mateus”
As únicas fontes substanciais para a vida e mensagem de Jesus são os Evangelhos do Novo Testamento, sendo o mais antigo deles o de Marcos (escrito entre 60 e 80 EC), seguido por Mateus, Lucas e João (entre 75 e 90 EC). Algumas evidências adicionais podem ser encontradas nas cartas de Paulo, escritas a partir de 50 EC e sendo os textos cristãos mais antigos sobreviventes. No entanto, existem outras fontes que podem ter informações adicionais. Fontes não canônicas, especialmente os evangelhos apócrifos, contêm muitos ditos atribuídos a Jesus, bem como histórias sobre ele que ocasionalmente são consideradas “autênticas”. Entre esses apócrifos está o Evangelho de Judas, um texto gnóstico do século II EC que retrata Judas como um importante colaborador de Jesus e não como seu traidor. Outro texto importante é o Evangelho de Tomé, do meio do século II EC, que atraiu muita atenção. Sendo um evangelho de “ditos” (114 ditos atribuídos a Jesus, sem narrativa), ele está fundamentado no gnosticismo, o movimento filosófico e religioso do século II EC que enfatizava o poder redentor do conhecimento esotérico adquirido por revelação divina. Para Tomé, a salvação consiste no autoconhecimento, e o batismo resulta na restauração ao estado primordial – homem e mulher em uma só pessoa, como Adão antes da criação de Eva (dito 23). A reversão espiritual a esse estado significava que a nudez não precisava resultar em vergonha. Um trecho (dito 37) permite suspeitar que os primeiros seguidores cristãos do Evangelho de Tomé tiravam suas vestes e as pisoteavam como parte de sua iniciação batismal. Existem algumas conexões entre essa visão de mundo e a de Paulo e o Evangelho de João, mas a teologia geral do Evangelho de Tomé está tão distante do ensinamento de Jesus como encontrado nos Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas – nos quais a escatologia judaica é central – que não é considerado uma fonte importante para o estudo de Jesus. É claro que é possível ou até provável que ditos individuais em Tomé ou outros evangelhos apócrifos tenham originado de Jesus, mas é improvável que fontes não canônicas possam contribuir muito para o retrato do Jesus histórico. No caso do Evangelho de Tomé, as tradições encontradas em outros evangelhos apócrifos muitas vezes são completamente diferentes das evidências dos evangelhos canônicos e estão inseridas em documentos que geralmente são considerados não confiáveis.
Existem algumas referências a Jesus em fontes romanas e judaicas do século I. Documentos indicam que poucos anos após a morte de Jesus, os romanos estavam cientes de que alguém chamado Chrestus (um leve erro de grafia de Christus) tinha sido responsável por distúrbios na comunidade judaica em Roma (Suetônio, A Vida dos Doze Césares, 25.4). Vinte anos depois, segundo Tácito, os cristãos em Roma eram proeminentes o suficiente para serem perseguidos por Nero, e sabia-se que eram devotos de Cristo, que Pilatos havia executado (Anais, 15.44). No entanto, esse conhecimento sobre Jesus dependia da familiaridade com o cristianismo primitivo e não fornece evidências independentes sobre Jesus. Josefo escreveu um parágrafo sobre Jesus (Antiguidades Judaicas, 18.63ss.) – assim como fez sobre Teudas, o Egípcio e outros líderes carismáticos (História da Guerra Judaica, 2.258-263; Antiguidades Judaicas, 20.97-99, 167-172) – mas foi bastante revisado por escribas cristãos, e os comentários originais de Josefo não podem ser discernidos.
As cartas de Paulo contêm evidências confiáveis, mas escassas. Seu principal tema, de que Jesus foi crucificado e ressuscitado dos mortos, é especialmente proeminente em 1 Coríntios 15, onde Paulo evoca uma tradição antiga sobre a morte de Jesus e as aparições subsequentes a seus seguidores. A Crucificação e a Ressurreição foram aceitas por todos os cristãos da primeira geração. Paulo também cita alguns ditos de Jesus: a proibição do divórcio e do novo casamento (1 Coríntios 7:10-11), as palavras sobre o pão e o cálice na Última Ceia de Jesus (1 Coríntios 11:23-25) e uma previsão da chegada iminente do Salvador do céu (1 Tessalonicenses 4:15-17).
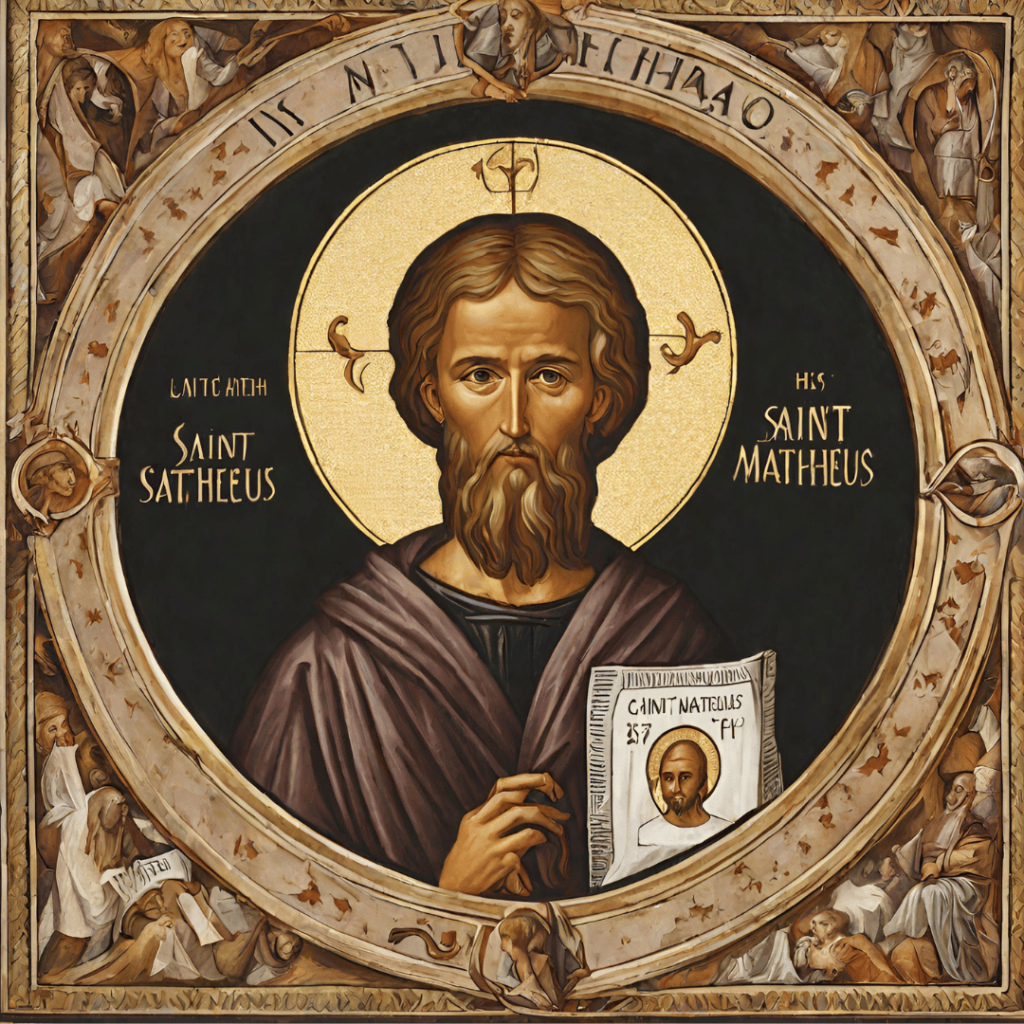
Informações mais detalhadas sobre Jesus são encontradas nos Evangelhos do Novo Testamento, embora estes não tenham igual valor para reconstruir sua vida e ensinamentos. Os Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas concordam tão estreitamente entre si que podem ser estudados juntos em colunas paralelas em um trabalho chamado sinopse, sendo chamados de Evangelhos Sinóticos. João, no entanto, é tão diferente que não pode ser conciliado com os Sinóticos, exceto de maneiras muito gerais (por exemplo, Jesus viveu na Palestina, ensinou, curou, foi crucificado e ressuscitou). Nos Sinóticos, a carreira pública de Jesus parece ter durado menos de um ano, pois apenas uma Páscoa é mencionada, mas em João ocorrem três Páscoas, implicando um ministério de mais de dois anos. Nos quatro Evangelhos, Jesus realiza milagres, especialmente curas, mas, enquanto os exorcismos são prevalentes nos Sinóticos, não há nenhum em João. As maiores diferenças, no entanto, aparecem nos métodos e conteúdo do ensinamento de Jesus. Nos Evangelhos Sinóticos, ele fala sobre o reino de Deus em aforismos curtos e parábolas, usando comparações e figuras de linguagem, muitas delas tiradas da vida agrícola e da aldeia. Raramente se refere a si mesmo e, quando solicitado por um “sinal” para provar sua autoridade, ele se recusa (Marcos 8:11-12). Em João, por outro lado, Jesus emprega longos discursos metafóricos, nos quais ele mesmo é o principal tema. Seus milagres são descritos como “sinais” que corroboram a autenticidade de suas afirmações.
Os estudiosos unanimemente escolheram a versão dos Evangelhos Sinóticos sobre o ensinamento de Jesus. O veredicto sobre os milagres é o mesmo, embora seja menos firmemente mantido: é muito provável que Jesus fosse conhecido como um exorcista, o que resultou na acusação de que ele expulsava demônios pelo príncipe dos demônios (Marcos 3:22–27). A escolha entre o esboço narrativo dos Sinóticos e o de João é menos clara. Além de apresentar um ministério mais longo do que os outros Evangelhos, João também descreve várias viagens a Jerusalém. Apenas uma é mencionada nos Sinóticos. Ambos os esboços são plausíveis, mas um ministério de mais de dois anos deixa mais perguntas sem resposta do que um de alguns meses. É geralmente aceito que Jesus e seus discípulos eram itinerantes, viajando pela Galileia e seus arredores imediatos, e que Jesus ensinava e curava em várias cidades e vilarejos, bem como no campo e à beira do Mar da Galileia. Mas onde passavam os invernos? Quem os sustentava? Nenhum dos Evangelhos explica como viviam (embora Lucas 8:1–3 faça alusão a algumas seguidoras), mas a omissão é ainda mais flagrante em João, onde o ministério mais longo presume a necessidade de alojamentos de inverno, embora nenhum seja mencionado. Isso e outras considerações não são decisivos, mas a carreira breve dos Evangelhos Sinóticos é ligeiramente preferível.
Os Evangelhos Sinóticos, portanto, são as fontes primárias para o conhecimento do Jesus histórico. No entanto, eles não são equivalentes a uma biografia acadêmica de uma figura histórica recente. Em vez disso, os Evangelhos Sinóticos são documentos teológicos que fornecem informações que os autores consideravam necessárias para o desenvolvimento religioso das comunidades cristãs em que trabalharam. Os detalhes da vida diária de Jesus são quase totalmente ausentes, assim como características importantes, como sua educação, viagens e outras experiências de desenvolvimento. Os personagens, em sua maioria, são “planos”: emoções, motivos e personalidades raramente são mencionados. No entanto, existem algumas exceções que mostram o quanto se sabe: Pedro vacila (Mateus 14:28–31; Marcos 14:66–72), Tiago e João pedem tratamento preferencial no reino vindouro (Marcos 10:35–40), e Pilatos se angustia com a decisão de executar Jesus (Mateus 27:15–23; Lucas 23:2–25). Por outro lado, os fariseus e escribas desafiam periodicamente Jesus e depois desaparecem, com pouca indicação do que, do ponto de vista deles, esperavam realizar. Até mesmo Jesus é um personagem bastante plano nos Evangelhos. Às vezes, ele fica irritado e às vezes demonstra compaixão (Marcos 3:5; 6:34, respectivamente), mas pouco mais se pode dizer. Este é um aspecto frustrante dos Evangelhos. A situação é diferente em relação a Paulo, cujas cartas são existentes e auto-reveladoras. A força de sua personalidade está nas cartas, mas a força da personalidade de Jesus deve ser encontrada em algum lugar por trás dos Evangelhos.
Os Evangelhos consistem em passagens breves e autocontidas, ou perícopes (da palavra grega que significa “cortar ao redor”), relacionadas a Jesus. Estudos posteriores revelam que os autores dos Evangelhos Sinóticos moviam as perícopes, alterando os contextos para atender às suas próprias políticas editoriais, organizando as pericopes de acordo com o tema, por exemplo. No capítulo 8 e 9, Mateus reúne 10 perícopes de cura, com algumas outras passagens intercaladas. Marcos e Lucas contêm a maioria dessas passagens, mas suas disposições são diferentes. Mateus colocou todas essas curas em um só lugar, enquanto Marcos e Lucas as espalharam, mas de maneiras diferentes. Como os autores dos Evangelhos reorganizaram o material para atender às suas próprias necessidades, é necessário assumir que os primeiros mestres cristãos também organizaram as histórias sobre Jesus de forma didática. Isso significa que a sequência de eventos no ministério de Jesus é desconhecida.
Além disso, os Evangelistas e outros primeiros mestres cristãos também moldaram o material sobre Jesus. Durante o curso da transmissão, os elementos narrativos factuais que cercavam cada ditado ou evento foram removidos, deixando apenas uma unidade central, que foi aplicada a várias situações pela adição de novas introduções e conclusões. Por exemplo, tanto Mateus quanto Lucas relatam a Parábola da Ovelha Perdida. Em Mateus 18:12–14, a parábola é contada aos discípulos, e o significado é que eles, assim como o pastor, deveriam sair em busca dos perdidos. Em Lucas 15:4–7, a mesma história é dirigida aos fariseus, desta vez para instruí-los a não murmurar porque Jesus atraiu pecadores arrependidos. Ambas as aplicações da parábola eram úteis homileticamente e, portanto, foram preservadas. No entanto, o contexto em que Jesus usou originalmente a parábola é desconhecido. Outro exemplo é o ditado “ame seus inimigos” (Mateus 5:44). Homileticamente, ele pode ser aplicado a inúmeras circunstâncias, o que o torna muito útil para sermões e ensinamentos. No entanto, historicamente, não se sabe a quem Jesus se referia quando proferiu essas palavras. A falta de conhecimento firme do contexto original torna a interpretação precisa de passagens individuais difícil.
Além disso, nem todas as palavras e ações nos Evangelhos Sinóticos são relatos de coisas que Jesus realmente disse e fez. Acreditando que Jesus ascendeu ao céu, os primeiros cristãos falavam com ele em oração e às vezes ele respondia (2 Coríntios 12:8–9; cf. 1 Coríntios 2:13). Esses primeiros cristãos não faziam uma distinção tão clara entre “o Jesus histórico” e “o Senhor celestial” como a maioria das pessoas modernas faz, e algumas palavras ouvidas em oração quase certamente acabaram nos Evangelhos como palavras proferidas por Jesus durante sua vida.
Uma vez que tanto o contexto original das palavras e ações de Jesus quanto as passagens nos Evangelhos que remontam ao Jesus histórico são desconhecidos, existem dificuldades substanciais ao tentar reconstruir o Jesus da história. Dessas duas dificuldades, a falta de contexto imediato é a mais séria. Deve-se admitir que, em muitos pontos, precisão e nuances ao descrever o ensinamento e o ministério de Jesus não podem ser alcançadas.
No entanto, existem critérios de autenticidade que tornam possível obter boas informações gerais sobre os ensinamentos de Jesus. Um dos mais importantes é a “múltipla atestação”: uma passagem que aparece em duas ou mais fontes independentes é provavelmente autêntica. Um exemplo importante é a proibição do divórcio, que aparece nas cartas de Paulo e em duas formas diferentes nos Evangelhos Sinóticos. A forma curta, que se concentra no casamento após o divórcio, é encontrada em Mateus 5:31–32 e Lucas 16:18. A forma longa, que proíbe o divórcio de forma mais absoluta, aparece em Mateus 19:1–12 e Marcos 10:1–12. A versão de Paulo (1 Coríntios 7:10–11) concorda mais de perto com a forma curta. Devido a essa excelente atestação, é quase indiscutível que Jesus se opôs ao divórcio e especialmente ao casamento após o divórcio, embora o estudo das cinco passagens não revele precisamente o que ele disse.
Uma segunda prova é “contra o viés dos Evangelhos”: uma passagem que parece ser contrária a um dos temas principais ou visões expressas em um ou mais Evangelhos é provável que seja autêntica, porque os primeiros cristãos provavelmente não criariam material com o qual discordavam. A descrição de Mateus sobre João Batista é um bom exemplo. O autor aparentemente achou embaraçoso que Jesus tenha recebido o batismo de arrependimento de João (por que Jesus precisaria disso?). Assim, ele faz João protestar contra o batismo e afirmar que Jesus deveria, em vez disso, batizá-lo (Mateus 3:13–17; essa objeção não está em Marcos ou Lucas). Esses versículos em Mateus assumem que João reconheceu Jesus como sendo maior do que ele, mas Mateus mais tarde mostra João, na prisão, enviando uma mensagem para perguntar a Jesus se ele era “aquele que há de vir” (Mateus 11:2–6). Essas passagens tornam virtualmente certo que João batizou Jesus e altamente provável que João tenha perguntado a Jesus quem ele era. O protesto de João contra o batismo de Jesus parece ser uma criação de Mateus. Ao manter essas passagens enquanto, na prática, argumenta contra elas, Mateus valida a autenticidade da tradição de que João batizou Jesus e depois indagou sobre sua verdadeira identidade.

Esses são apenas alguns exemplos de testes que podem confirmar a autenticidade de passagens nos Evangelhos. Em muitos casos, no entanto, os critérios não se aplicam: muitas passagens não atendem nem falham nos testes. Agrupar passagens em categorias – provável, improvável, possível, mas não confirmado – é um exercício útil, mas não vai muito longe para determinar uma representação realista de Jesus como uma figura histórica. Mais do que apenas o estudo minucioso dos Evangelhos é necessário, embora essa seja uma tarefa essencial.
O contexto da carreira de Jesus
Boas informações históricas sobre Jesus podem ser obtidas estabelecendo o contexto geral de seu ministério público. Como mencionado anteriormente, ele começou sua carreira sendo batizado por João, um profeta escatológico, e uma compreensão da escatologia é fundamental para interpretar o mundo de Jesus. Embora a escatologia seja a doutrina das últimas coisas, os judeus que esperavam a redenção futura não esperavam o fim do mundo. Em vez disso, eles pensavam que Deus interviria na história humana e tornaria o mundo perfeito: ou seja, os judeus viveriam na Terra Santa livres de dominação estrangeira e em paz e prosperidade. Muitos judeus, incluindo João, esperavam que o julgamento final precedesse essa era dourada, e ele ensinava que as pessoas deveriam se arrepender diante de sua iminência (Mateus 3:1–12; Lucas 3:3–9). Como Jesus aceitou o batismo de João, ele deve ter concordado com essa mensagem, pelo menos em parte. Após a morte e Ressurreição de Jesus, seus seguidores acreditavam que ele logo voltaria para trazer o reino de Deus. A expressão mais clara dessa crença é oferecida por Paulo, cuja primeira carta indica que o Senhor retornará antes que a maioria das pessoas então vivas morra (1 Tessalonicenses 4:13–18). Se Jesus começou sua carreira sendo batizado por um profeta escatológico e se após sua Crucificação seus seguidores esperavam que ele voltasse para salvá-los (1 Tessalonicenses 1:9–10; 1 Coríntios 15:20–28), é altamente provável que ele mesmo compartilhasse das visões básicas da escatologia judaica.
Muitos aspectos da carreira de Jesus apoiam a visão de que ele esperava uma intervenção divina. Uma das crenças mais comuns da escatologia judaica era que Deus restauraria as Doze Tribos de Israel, incluindo as Dez Tribos Perdidas. O fato de Jesus compartilhar essa visão é indicado por seu chamado de 12 discípulos, que aparentemente representavam as 12 tribos (Mateus 19:28). Além disso, ele proclamou a chegada do reino de Deus; ele previu a destruição do Templo (Marcos 13:2) e possivelmente sua reconstrução “sem mãos” (Marcos 14:58); ele entrou em Jerusalém em um jumento, simbolizando seu reinado (Marcos 11:4–8; Mateus 21:1–11; veja Zacarias 9:9 para o símbolo); e teve uma última refeição com seus discípulos na qual disse que não beberia mais do fruto da videira “até aquele dia em que o beba no novo reino de Deus” (Marcos 14:25). Não é surpresa que após sua morte seus discípulos tenham formado uma pequena comunidade que esperava o retorno de Jesus para inaugurar um reino no qual o mundo seria transformado.
Nesse contexto, Jesus pode ser visto como um profeta escatológico, agrupado historicamente na mesma categoria geral que João Batista e alguns outros profetas judeus do século I, como Teudas. Assim como João, Jesus acreditava no julgamento iminente, mas ele enfatizava mais a inclusão do que a condenação e acolhia “publicanos e pecadores” no vindouro reino de Deus (Mateus 11:18–19; 21:31–32). Além disso, seu ensinamento era rico e multifacetado e não se limitava à expectativa escatológica.
Principais aspectos do ensinamento de Jesus
O reino de Deus
Embora os Evangelhos concordem que Jesus proclamou o reino escatológico de Deus, eles oferecem diferentes versões de sua visão desse reino. Uma delas é que o reino de Deus existe no céu e que os indivíduos podem entrar nele após a morte (Marcos 9:47). Como o poder de Deus está em certa medida onipresente, Jesus pode ter visto “o reino”, no sentido da presença de Deus, como especialmente evidente em suas próprias palavras e feitos. A parábola que compara o reino a fermento que gradualmente leveda toda a massa (Mateus 13:33) indica que Jesus pode ter entendido o reino de Deus como começando no presente. Essas outras maneiras de visualizar o reino, no entanto, não dominam o ensinamento de Jesus nos Evangelhos Sinóticos. As afirmações sobre o reino celestial, ou o reino como parcialmente presente na terra, não negam a natureza escatológica da mensagem de Jesus. A essência de seu ensinamento é que o reino viria à terra em todo o seu poder e glória, momento em que a vontade de Deus seria feita “assim na terra como no céu” (Mateus 6:10). Jesus morreu antes que o céu descesse à terra, e isso, juntamente com as aparições após a Ressurreição, levou seus seguidores a esperar que ele retornasse em um futuro próximo, inaugurando o reino e governando em nome de Deus.
Jesus aparentemente antecipou a chegada de uma figura celestial que ele chamou de “Filho do Homem”, que viria nas nuvens de glória e reuniria os escolhidos. A Bíblia Hebraica lançou as bases para esse ensinamento de duas maneiras. Primeiro, vários profetas esperavam “o dia do Senhor”, quando os ímpios seriam punidos ou destruídos e os bons seriam poupados, embora o foco estivesse na punição (Amós 5:12–20; Sofonias 1; Joel 1:15; 2:1; Abdias versículo 15). Em segundo lugar, Daniel 7 descreve vários reinos representados por quatro bestas fantásticas, todas as quais são destruídas. Então, de acordo com Daniel, o Filho do Homem, representando o povo de Israel, ascende a Deus e recebe “domínio, glória e realeza” (Daniel 7:14), após o que Israel deveria reinar supremo (7:27). Essas passagens parecem ter levado Jesus a retratar a chegada do Filho do Homem do céu como o início do julgamento vindouro e da redenção de Israel. O tema aparece em numerosas passagens nos Evangelhos Sinóticos (ver Tabelas 2, 3, 4 e 5).
Tabela 5: Preparação Mateus 24:44 Lucas 12:40 “Por isso, também vós estai preparados; porque, à hora que não cuidais, o Filho do Homem virá.” “Estai vós também apercebidos; porque o Filho do Homem há de vir à hora em que não penseis.”
Tabela 4: Filho do Homem vem como relâmpago ou grande dilúvio Mateus 24:27, 37-39 Lucas 17:24, 26, 27, 30 “Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem… 37Porque, assim como, nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, 38e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem.” “Porque, assim como o relâmpago, fuzilando em uma extremidade do céu, ilumina até à outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia… 26Como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. 27Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e destruiu a todos… 30Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar.”
Tabela 3: Filho do Homem, glória do Pai, anjos, alguns não provarão a morte Mateus 16:27-28 Marcos 8:38-9:1 Lucas 9:26-27 “Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos; e então dará a cada um segundo as suas obras. 28Em verdade vos digo que, alguns há, dos que estão aqui, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino.” “Porque qualquer que, nesta geração adúltera e pecadora, se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. 9.1E dizia-lhes: Em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus.” “Porque qualquer que se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. 27Mas em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus.”
Tabela 2: Aflição cósmica, Filho do Homem, anjos, reunião dos escolhidos Mateus 24:29-31 Marcos 13:24-27 Lucas 21:25-28 “Mas logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. 30Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem; e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. 31E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os quatro ventos, de uma à outra extremidade dos céus.” “Mas naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz; 25E as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. 26E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. 27E então ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até à extremidade do céu.” “Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas; sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. 26Os homens desfalecerão de terror, e pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo; porquanto os poderes do céu serão abalados. 27Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. 28Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima.”
A descrição de Paulo sobre o reino vindouro também merece consideração (itálicos indicam as concordâncias mais próximas com os trechos nos Evangelhos):
“Pois vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até à vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro; depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares.” (1 Tessalonicenses 4:15-17)
Paulo substituiu “o Filho do Homem” por “o Senhor”. Não se sabe se Jesus pretendia se referir a si mesmo ou a outra figura quando usou o termo Filho do Homem nesse contexto (ele se referiu a si mesmo como Filho do Homem no sentido de “um ser humano”, como em Mateus 8:20). Na época de Paulo, no entanto, os cristãos não faziam mais essa distinção e interpretavam o Filho do Homem celestial como Jesus ressuscitado.
A crença de Jesus de que o Filho do Homem em breve chegaria para inaugurar o reino é confirmada como autêntica pela múltipla atestação. Isso também vai “contra a corrente” do Evangelho Segundo Lucas, já que o autor tendia a minimizar a escatologia (por exemplo, Lucas 17:21 e Atos, escrito pelo mesmo autor). Além disso, Paulo, cujas cartas são anteriores aos Evangelhos, acreditava que a maioria das pessoas então vivas ainda estaria viva no momento do retorno de Jesus, enquanto os Evangelhos Sinóticos afirmam que “alguns dos que aqui estão não provarão a morte”. A mudança de “maioria” para “alguns” provavelmente demonstra que a expectativa estava começando a diminuir quando os Evangelhos foram escritos.
Inclusão no Reino
Várias passagens indicam que seguir Jesus era altamente desejável para aqueles que desejavam ser incluídos no reino vindouro. Jesus chamou algumas pessoas para abandonar tudo para segui-lo (Marcos 1:16-20; 10:17-31) e prometeu que sua recompensa seria grande no céu. No entanto, não se pode dizer que Jesus via a lealdade pessoal como um pré-requisito para a inclusão no reino. Muitas vezes, ele simplesmente instava todos a fixar sua atenção no reino, não nas posses materiais (Mateus 6:19-21; 6:25-34; Lucas 12:13-21). A maioria de seu ensinamento nos Evangelhos Sinóticos é sobre Deus e o valor de retornar a Ele. Assim, em uma parábola, o “filho pródigo” retorna ao “pai”, presumivelmente representando Deus (Lucas 15:11-32).
Talvez a fé em Deus e o tratamento amoroso com outras pessoas (Mateus 25:34-40) fossem suficientes para entrar no reino. Isso parece ser indicado pelo estudo de crianças, dos humildes, dos pobres, dos mansos, dos humildes e dos pecadores, a quem Jesus chamava e favorecia especialmente. “Deixai vir a mim as crianças e não as impeçais, porque o reino de Deus pertence a tais como estas” (Marcos 10:14). No reino vindouro, além disso, os últimos seriam os primeiros (Marcos 10:31); aqueles que ocupavam as principais posições no mundo atual seriam rebaixados (Lucas 14:7-11); aqueles que abandonassem tudo e seguissem Jesus receberiam “cem vezes mais” (Marcos 10:30); e os pecadores, exemplificados pelos publicanos e prostitutas, também seriam incluídos no reino (Mateus 21:31). As Bem-aventuranças, tiradas do Sermão da Montanha, destacam especialmente a preocupação de Jesus pelos pobres e pelos mansos que serão abençoados (Lucas 6:20; Mateus 5:3-5). Essa ênfase provavelmente se baseia em parte em sua simpatia por aqueles de sua própria classe socioeconômica ou abaixo dela. Significativamente, Jesus e seus discípulos não eram eles próprios dos estratos mais baixos da sociedade. Seu pai trabalhava com as mãos, mas não era destituído, e alguns dos discípulos de Jesus eram de famílias que possuíam barcos de pesca e casas (Marcos 1:19, 29). Eles não eram ricos, mas também não eram trabalhadores diários, mendigos ou sem-teto, todos os quais eram o foco da simpatia de Jesus.
Seu mensagem tinha uma dimensão social em dois aspectos. Ele pensava que no reino haveria relações sociais, não uma coleção de espíritos desencarnados flutuando nas nuvens. Ele também acreditava que os desfavorecidos do mundo presente seriam de alguma forma favorecidos na nova era (Mateus 5:3-11; Lucas 6:20-23). É possível que a promessa de casas e terras em Mateus 19:29 e Marcos 10:29-30 seja metafórica, mas também é possível que Jesus tenha imaginado uma sociedade futura na qual a propriedade ainda contaria, embora fosse redistribuída.
O apelo de Jesus aos pecadores, conforme Lucas 5:32, significava que ele os chamava ao arrependimento, mas nem Mateus 9:13 nem Marcos 2:17 mencionam a palavra arrependimento. É muito provável que a mensagem de Jesus fosse mais radical do que um simples chamado ao arrependimento, uma proposição com a qual todos concordariam. Ele queria que os pecadores o aceitassem a ele e sua mensagem, e prometeu inclusão no reino se o fizessem. Essa aceitação, sem dúvida, incluía uma reforma moral, mas Jesus provavelmente não queria dizer que eles precisavam se conformar precisamente aos padrões da sociedade judaica justa, que exigia a restituição do dinheiro ou bens obtidos desonestamente, a adição de um quinto como multa, e a apresentação de uma oferta pelo pecado no Templo (Levítico 6:1-7). Em vez disso, Jesus chamou as pessoas para segui-lo e ser como seus discípulos. Evidentemente, ele esperava que mais pessoas fossem como ele (aceitando pecadores, amando até mesmo inimigos) do que se juntassem ao pequeno grupo que o seguia. Embora Jesus tenha chamado especificamente vários seguidores, parece que ele não via a fé pessoal e o compromisso com ele como necessidades absolutas (embora a fé nele tenha se tornado o requisito padrão do cristianismo primitivo).
Independentemente de ter feito esse requisito específico ou não, Jesus certamente atribuía grande importância à sua própria missão e pessoa. A preocupação cristã com títulos (ele achava que era o Messias, Filho de Deus, Filho do Homem celestial, filho de Davi ou rei?) obscurece a questão. Jesus às vezes se chamava de Filho do Homem, embora talvez não significasse o Filho do Homem celestial, e de acordo com duas passagens, ele aceitava indiretamente os epítetos Messias (ou Cristo) e Filho de Deus (Mateus 16:16; Marcos 14:61-62). Em ambos os casos, no entanto, as passagens paralelas (Marcos 8:29; Lucas 9:20; 22:67-70; Mateus 26:63-64) são menos afirmativas. De qualquer forma, Jesus aparentemente não fazia questão de títulos. Ele chamava as pessoas para segui-lo e se dedicar inteiramente a Deus, não para lhe atribuir um apelido específico. Se ele estava preocupado com títulos, as evidências são tão escassas que não se pode saber o que esses títulos significavam para ele ou para os outros. No entanto, se essa evidência incerta for ignorada, emerge uma imagem mais clara de sua autoconcepção: Jesus achava que era o último emissário de Deus, que ele e seus discípulos governariam no reino vindouro, e que as pessoas que aceitassem sua mensagem seriam incluídas nele. Ele também pode ter acreditado que a inclusão no reino seria concedida àqueles que amassem seus vizinhos e fossem mansos e humildes de coração.
A relação do ensinamento de Jesus com a lei judaica
É o foco de muitas passagens nos Evangelhos. De acordo com um conjunto de ensinamentos, especialmente proeminentes no Sermão da Montanha (Mateus 5-7), Jesus exortou seus seguidores a observar a lei sem hesitação (Mateus 5:17-48). De acordo com outro conjunto de ensinamentos, ele próprio não aderia estritamente à lei e até transgredia as opiniões vigentes sobre alguns aspectos dela, especialmente o sábado (por exemplo, Marcos 3:1-5). É concebível que ambos fossem verdadeiros, que ele fosse extremamente rigoroso sobre casamento e divórcio (Mateus 5:31-32; Marcos 10:2-12), mas menos rigoroso sobre o sábado. O estudo de Jesus e da lei é, como qualquer outro estudo de lei, altamente técnico. Em geral, as disputas legais nos Evangelhos se enquadram nos parâmetros do judaísmo do século I. Alguns se opunham a curas menores no sábado (como Jesus é representado fazendo), mas outros permitiam. Da mesma forma, os saduceus consideravam a observância do sábado pelos fariseus muito laxa. Também havia muitas discordâncias no judaísmo do século I sobre pureza. Enquanto alguns judeus lavavam as mãos antes de comer (Marcos 7:5), outros não o faziam; no entanto, esse conflito não era tão sério quanto o entre os xamaitas e os hilelitas (os dois principais partidos dentro do farisaísmo) sobre a pureza menstrual. É digno de nota que Jesus não se opunha às leis de pureza. Pelo contrário, de acordo com Marcos 1:40-44, ele aceitava as leis mosaicas sobre a purificação dos leprosos (Levítico 14).
Numa passagem nos Evangelhos, no entanto, Jesus aparentemente se opôs à lei judaica conforme universalmente entendida. Os judeus concordaram em não comer carnívoros, roedores, insetos e doninhas, bem como porco e frutos do mar (Levítico 11; Deuteronômio 14), e as duas últimas proibições os distinguiram de outros povos. De acordo com Marcos 7:19, Jesus “declarou puros todos os alimentos”. Se ele o fez, Jesus se opôs diretamente à lei de Deus dada a Moisés. Isso parece ser apenas uma inferência de Marcos, no entanto, e não está na passagem paralela de Mateus 15. Mais importante ainda, Pedro parece ter aprendido isso após a morte de Jesus, por meio de uma revelação celestial (Atos 10:9–16). Talvez Jesus não tenha se oposto diretamente a nenhum aspecto da lei sagrada.
No entanto, provavelmente ele teve disputas legais nas quais se defendeu citando precedentes escriturais, o que implica que ele não se colocou contra a lei (Marcos 2:23–28). Sua disposição em tomar suas próprias decisões em relação à lei provavelmente foi vista com suspeita. Normalmente, debates legais ocorriam entre grupos ou escolas concorrentes, e indivíduos que decidiam como observar as leis eram considerados agitadores. Ou seja, Jesus era autônomo; ele interpretava a lei de acordo com suas próprias regras e decidia como se defender quando criticado. Ele não foi o único na antiga Judaísmo a agir de acordo com sua própria percepção da vontade de Deus, e assim ele não era unicamente problemático nesse aspecto, mas tal comportamento poderia ser visto com suspeita.
Ética
Junto com seus ensinamentos sobre o reino e a lei, Jesus defendia a pureza ética. Ele exigia devoção completa a Deus, colocando isso à frente da devoção a si mesmo e até mesmo à família (Marcos 3:31–35; Mateus 10:35–37), e ensinava que as pessoas deveriam abrir mão de tudo para obter o que era mais precioso (Mateus 13:44–46). De acordo com Mateus 5:21–26 e 5:27–30, Jesus também acreditava que a observância da lei deveria ser não apenas externa, mas interna: o ódio e a luxúria, assim como o assassinato e o adultério, estão errados. O Jesus de Mateus em particular é um perfeccionista moral (5:17–48). Isso se encaixa bem com a proclamação do reino escatológico de Deus, porque Jesus acreditava, como o companheiro perfeccionista moral Paulo, que a intervenção divina estava próxima, e, portanto, as pessoas tinham que ser “irrepreensíveis” por apenas um curto período de tempo (1 Tessalonicenses 5:23). A dificuldade do perfeccionismo em uma sociedade em curso é evidente em tradições posteriores sobre o divórcio. Paulo citou a proibição de Jesus, mas então fez uma exceção – se um cristão fosse casado com um incrédulo, e o incrédulo desejasse o divórcio, o cristão deveria concordar com isso – o que ele afirmou explicitamente ser sua própria opinião, não do Senhor (1 Coríntios 7:10–16). Da mesma forma, Mateus retrata os discípulos como respondendo à proibição de Jesus, propondo que, se o divórcio for impossível, é melhor evitar o casamento (Mateus 19:10). A impossibilidade de ser perfeito durante toda a vida leva alguns intérpretes modernos a propor que Jesus pretendia que essas advertências fossem apenas um ideal, não um requisito. É mais provável, no entanto, que Jesus, o profeta escatológico, considerasse a perfeição como bastante possível durante o curto período antes da chegada do Filho do Homem.
Milagres
Um profeta e mestre de ética, Jesus também era um curador e realizava milagres. No século I, curadores e realizadores de milagres eram bastante conhecidos, embora não precisamente comuns, e não eram considerados seres sobre-humanos. Jesus mesmo admitia que outros eram capazes de realizar milagres, como exorcismos, independentemente de seguir ou não a ele (Mateus 12:27; Marcos 9:38–41; 6:7). Assim, o significado desse aspecto muito importante de sua vida é frequentemente mal compreendido. Na época de Jesus, era aceito que as pessoas podiam curar e realizar milagres naturais, como fazer chover. A questão era, por qual poder ou espírito eles faziam isso. Alguns dos oponentes de Jesus o acusaram de expulsar demônios pelo príncipe dos demônios (Marcos 3:19–22; Mateus 12:24; Lucas 11:15). Ele respondeu que o fazia pelo Espírito de Deus (Mateus 12:28; Lucas 11:20). Obviamente, muitas pessoas discordavam, mas esse era o debate na época de Jesus – não se ele, como alguns outros, poderia realizar milagres, mas por qual poder ele o fazia. Em sua própria época, milagres não eram prova nem de divindade nem do messianismo, e, no máximo, poderiam ser usados para validar a mensagem ou estilo de vida de um indivíduo.

Controvérsias e perigos na Galileia
Multidões e autonomia
A reputação de Jesus como curador teve uma consequência histórica muito importante: ele atraiu multidões, como os primeiros capítulos de Marcos (por exemplo, 1:28, 45; 2:2) revelam. Ao fazer isso, Jesus poderia espalhar sua mensagem para mais pessoas, mas também corria o risco de atrair aqueles cujo interesse nele era puramente egoísta e que vinham esperando apenas por curas. Além disso, multidões eram politicamente perigosas. Uma das razões pelas quais Herodes Antipas executou João Batista foi porque ele atraía multidões tão grandes que Antipas temia uma revolta (Josefo, As Antiguidades dos Judeus 18.116–119).
Embora a mensagem de Jesus não fosse necessariamente socialmente perigosa, as implicações revolucionárias de sua promessa de inversão futura de status podem ter deixado algumas pessoas um pouco desconfortáveis, e a promessa de Jesus aos pecadores poderia ter sido irritante para os escrupulosos. Ainda assim, sem as multidões, esses aspectos de sua mensagem não teriam importado muito. Ele não atacou o cerne da religião judaica como tal: ele não negou a eleição de Abraão e o requisito da circuncisão; tampouco denunciou Moisés e a lei. No entanto, durante seu ministério na Galileia, algumas pessoas o viam com hostilidade e suspeita, em parte por causa das multidões e em parte por causa de sua autonomia. Era impossível saber o que alguém autônomo poderia fazer a seguir, e isso poderia ser perigoso, especialmente se ele tivesse seguidores.
Doutores da Lei e Fariseus de Jesus
No século I, doutores da lei e fariseus eram dois grupos em grande parte distintos, embora presumivelmente alguns doutores da lei fossem fariseus. Os doutores da lei tinham conhecimento da lei e podiam redigir documentos legais (contratos de casamento, divórcio, empréstimos, heranças, hipotecas, venda de terras, entre outros). Cada vila tinha pelo menos um doutor da lei. Os fariseus eram membros de um partido que acreditava na ressurreição e em seguir tradições legais que não eram atribuídas à Bíblia, mas às “tradições dos pais”. Como os doutores da lei, eles também eram conhecidos especialistas legais: daí a sobreposição parcial na membresia dos dois grupos. Parece, no entanto, a partir de tradições rabínicas posteriores, que a maioria dos fariseus eram pequenos proprietários de terras e comerciantes, não doutores da lei profissionais.
Na visão de Marcos, os principais adversários de Jesus na Galileia eram os doutores da lei, mas, de acordo com Mateus, eles eram fariseus. Essas visões aparentemente conflitantes são facilmente reconciliadas: homens conhecedores da lei judaica e das tradições teriam examinado Jesus cuidadosamente, e é provável que tanto os doutores da lei quanto os fariseus tenham questionado seu comportamento e ensinamentos, como indicam os Evangelhos (por exemplo, Marcos 2:6, 16; 3:22; Mateus 9:11; 12:2). Segundo um trecho, os fariseus (juntamente com os herodianos, segundo Marcos) planejaram destruir Jesus (Mateus 12:14; Marcos 3:6). Se o relato desse plano for preciso, no entanto, parece que nada resultou dele, já que os fariseus não tiveram um papel significativo nos eventos que levaram à morte de Jesus. Marcos e Lucas não atribuem a eles nenhum papel, enquanto Mateus os menciona apenas uma vez (Mateus 27:62).
Algumas pessoas na Galileia podem ter desconfiado de Jesus, e é provável que especialistas legais tenham questionado sua interpretação da lei, mas ele nunca foi formalmente acusado de um delito legal grave, e a oposição na Galileia não levou à sua morte. Jesus enfrentou perigo mortal somente depois de ir a Jerusalém pela última vez.
Na cerca de 30 EC, Jesus e seus discípulos foram de Galileia a Jerusalém para observar a Páscoa. Presumivelmente, foram uma semana antes, como fizeram dezenas de milhares de outros judeus (talvez até 200.000 ou 300.000), para serem purificados da “impureza de cadáver”, de acordo com Números 9:10-12 e 19:1-22. Os Evangelhos não mencionam a purificação, mas colocam Jesus próximo ao Templo nos dias que antecedem a Páscoa. Ele entrou em Jerusalém em um jumento, talvez para evocar Zacarias 9:9, que Mateus (21:5) cita: “Eis que vem a ti o teu rei, manso e montado em um jumentinho”. Isso desencadeou uma demonstração por seus seguidores, que saudaram Jesus como “Filho de Davi” (Mateus 21:9) ou como “aquele que vem em nome do Senhor” (Marcos 11:9). Mateus fala de “multidões”, o que sugere que muitas pessoas estavam envolvidas, mas a demonstração provavelmente foi relativamente pequena. Jerusalém na Páscoa era perigosa; tanto Caifás, que governava a cidade, quanto Pilatos, o prefeito ao qual o sumo sacerdote era responsável, sabiam que os festivais eram momentos propícios para revoltas. As tropas de Pilatos patrulhavam os telhados dos pórticos do Templo. Uma grande demonstração provavelmente teria levado à prisão imediata de Jesus, mas, como ele viveu por mais alguns dias, é provável que a multidão fosse relativamente pequena.
Jesus passou algum tempo ensinando e debatendo (Marcos 12) e também disse a seus discípulos que o Templo seria destruído (Marcos 13:1-2). Em um dos dias de purificação antes do sacrifício e da refeição da Páscoa, ele realizou sua ação simbólica mais dramática. Ele entrou na parte dos recintos do Templo onde os adoradores trocavam moedas para pagar o imposto anual do Templo de dois dracmas ou compravam pombos para sacrificar por transgressões inadvertidas da lei e como ofertas de purificação após o parto. Jesus virou algumas mesas (Marcos 11:15-17), o que levou “os principais sacerdotes e os escribas” (“e os principais homens do povo”, acrescenta Lucas) a planejarem tê-lo executado (Marcos 11:18; Lucas 19:47; cf. Marcos 14:1-2).
Mais tarde, os discípulos encontraram um quarto para a refeição da Páscoa, e um deles comprou um animal e o sacrificou no Templo (Marcos 14:12-16; o versículo 16 diz simplesmente, “prepararam a páscoa”). No entanto, Judas Iscariotes, um dos 12, traiu Jesus às autoridades. Durante a refeição, Jesus abençoou o pão e o vinho, designando o pão como “meu corpo” e o vinho como “meu sangue da aliança” (Marcos 14:22-25) ou “a nova aliança em meu sangue” (Lucas 22:20 e 1 Coríntios 11:25). Ele também afirmou que não beberia mais vinho até beber com os discípulos no reino (Mateus 26:29).

Após a ceia, Jesus levou seus discípulos ao Monte das Oliveiras para orar. Enquanto ele estava lá, Judas liderou homens armados enviados pelos principais sacerdotes para prendê-lo (Marcos 14:43-52). Eles levaram Jesus até Caifás, que havia reunido alguns de seus conselheiros (chamados coletivamente de Sinédrio). Jesus foi acusado inicialmente de ameaçar destruir o Templo, mas essa acusação não foi confirmada. Caifás então perguntou a ele se ele era “o Cristo, o Filho de Deus”. De acordo com Marcos (14:61-62), Jesus disse “sim” e depois fez a previsão da vinda do Filho do Homem. Segundo Mateus (26:63-64), ele disse: “Você disse, mas [ênfase adicionada] eu digo a você que verá o Filho do Homem”, aparentemente implicando que a resposta era não. De acordo com Lucas, ele foi mais ambíguo: “Se eu disser, você não acreditará” e “Você diz que eu sou” (22:67-70). (Alguns estudiosos acreditam que a Versão Internacional da Bíblia distorce a resposta de Jesus em Mateus e Lucas.)
Independentemente da resposta, Caifás evidentemente já havia decidido que Jesus precisava morrer. Ele gritou “blasfêmia” e rasgou suas próprias vestes, um sinal dramático de luto que a Bíblia Hebraica proíbe o sumo sacerdote de fazer (Levítico 21:10). O gesto foi eficaz, e os conselheiros concordaram que Jesus deveria ser enviado a Pilatos com a recomendação de executá-lo.
É duvidoso que os títulos Messias e Filho de Deus fossem realmente a questão, porque não havia um significado fixo para nenhum deles no judaísmo do século I. Como Marcos, repetido por Mateus e Lucas, apresenta a cena, quando a tentativa de executar Jesus por ameaçar o Templo falhou, Caifás simplesmente declarou o que quer que Jesus tenha dito (sobre o qual devemos permanecer incertos) como blasfêmia. Isso pode ter sido o que convenceu o conselho a recomendar a execução de Jesus. No entanto, parece que as acusações contra Jesus que Caifás transmitiu a Pilatos (Marcos 15:1-2, 26) podem ter incluído a acusação de que Jesus afirmou ser “rei dos judeus”.
Embora Pilatos não se importasse com os detalhes finos da lei judaica ou com a alegada blasfêmia de Jesus, é muito provável que ele tenha visto Jesus como um possível agitador e, por isso, ordenou sua execução. Os Evangelhos de Mateus, Lucas e João atribuem um caráter bastante razoável a Pilatos e mostram que ele estava perturbado com a decisão, mas cedeu à insistência judaica (Mateus 27:11–26; Lucas 21:1–25; João 18:28–40). Em Lucas, por exemplo, Pilatos declara três vezes que não encontra culpa em Jesus. Esse trecho sugere que a igreja primitiva, ao tentar se estabelecer no Império Romano, não queria que seu líder fosse considerado verdadeiramente culpado aos olhos dos romanos. Por outras evidências, sabe-se que Pilatos era insensível, cruel e dado a execuções arbitrárias (Filão, Sobre a Embaixada a Gaio, 300–302). Ele foi finalmente demitido do cargo por executar um grupo de samaritanos (Josefo, As Antiguidades dos Judeus, 18.85–89), e provavelmente enviou Jesus à morte sem se angustiar com a decisão.
Crucificado como o “rei dos judeus” pretendido (Marcos 15:26 e paralelos Mateus 27:37; Lucas 23:38; João 19:19), Jesus também foi zombado na cruz como aquele que destruiria e reconstruiria o Templo (Marcos 15:29). Essas duas acusações ajudam a explicar a decisão de executá-lo. O ataque menor de Jesus ao Templo e sua previsão de sua destruição parecem ter levado à sua prisão. É quase certo que Jesus pensava que Deus destruiria o Templo como parte do novo reino, talvez reconstruindo-o ele mesmo (Marcos 14:58). O Rolo do Templo de Qumran tem uma expectativa semelhante. Caifás e seus conselheiros provavelmente entendiam Jesus o suficiente: sabiam que ele era um profeta, não um especialista em demolição, e que seus discípulos não poderiam danificar gravemente o Templo mesmo se fossem autorizados a atacar suas paredes com picaretas e marretas. Mas alguém que falava sobre a destruição do Templo e que virava mesas em seus pátios era claramente perigoso. Esses atos eram inflamatórios em uma cidade que, na época das festas, estava propensa a revoltas que poderiam levar à morte de milhares de judeus. Caifás provavelmente teve o pensamento que João 11:50 lhe atribui, que “é melhor que um homem morra pelo povo do que toda a nação seja destruída”. O sumo sacerdote, sob o domínio romano, era responsável por manter a paz, e ele e seus conselheiros agiram de acordo.
A acusação de que Jesus se proclamava “rei dos judeus” também foi suficiente para justificar sua execução. Não há evidências diretas de que Jesus tenha dito: “Eu sou o rei”, mas sua pregação sobre “o reino de Deus” era inflamatória. Essa frase poderia ter sido interpretada de várias maneiras, mas certamente não significava que Roma continuaria governando a Judeia. Muitas pessoas ressentiam o domínio romano, e Roma estava pronta para eliminar aqueles que se tornavam muito vocais em sua oposição. No entanto, Pilatos não achava que Jesus e seus seguidores representassem uma ameaça militar. Se ele achasse isso, teria executado os discípulos também, seja na época ou quando voltassem a Jerusalém para começar sua nova missão. Em vez disso, o prefeito limitou suas ações ao líder carismático e entregou Jesus a seus soldados para execução. Eles o levaram com dois ladrões para fora de Jerusalém e os crucificaram.

Embora Caifás não acreditasse que Jesus pudesse realmente destruir o Templo, e Pilatos não acreditasse que ele pudesse organizar uma revolta séria, o discurso inflamatório representava um problema. Além disso, Jesus tinha seguidores, a cidade estava lotada de peregrinos celebrando o êxodo do Egito e a libertação de Israel do jugo estrangeiro, e Jesus havia cometido um pequeno ato de violência nos recintos sagrados. Ele era perigoso, e sua execução é perfeitamente compreensível nesse contexto histórico; ou seja, ele foi executado por ser o que era, um profeta escatológico. Caifás e seus conselheiros cumpriram seu mandato de manter a paz e reprimir qualquer sinal de uma revolta. Pilatos agiu presumivelmente por motivos semelhantes. É improvável que as partes envolvidas tenham perdido muito sono por causa de sua decisão; eles estavam cumprindo seu dever.
A proclamação de Jesus sobre o reino e suas ameaças aparentes contra o Templo eram baseadas em sua visão de que o reino estava próximo e que ele e seus discípulos em breve se banqueteariam nele. É possível que até o final ele esperasse uma intervenção divina, pois entre suas últimas palavras estava o grito “Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste?” (Marcos 15:34).
Ressureição
O que aconteceu em seguida mudou a história de uma maneira muito diferente do que Jesus parece ter antecipado. Alguns de seus seguidores afirmaram tê-lo visto após sua morte. Os detalhes são incertos, já que as fontes discordam sobre quem o viu e onde ele foi visto (as seções finais de Mateus, Lucas e João; o início de Atos; e a lista na primeira Carta de Paulo aos Coríntios, 15:5–8). Segundo Mateus, um anjo mostrou o túmulo vazio a Maria Madalena e “a outra Maria” e instruiu-as a contar aos discípulos para irem à Galileia. Enquanto ainda estavam em Jerusalém, as duas Marias viram Jesus, que lhes disse a mesma coisa, e ele apareceu mais uma vez aos discípulos na Galileia. A narrativa de Mateus é implicitamente mencionada em Marcos 14:28 e 16:7, embora o Evangelho de Marcos não tenha uma história de ressurreição, terminando em vez disso com o túmulo vazio (Marcos 16:8; as traduções imprimem adições dos escribas entre colchetes). No entanto, de acordo com Lucas, enquanto os discípulos permaneceram em Jerusalém, as mulheres (Maria Madalena; Joana; Maria, mãe de Tiago; e “outras mulheres”) encontraram o túmulo vazio. “Dois homens com vestes resplandecentes” lhes disseram que Jesus tinha ressuscitado. Mais tarde, Jesus apareceu a dois seguidores na estrada para Emaús (perto de Jerusalém), depois a Pedro e, posteriormente, aos discípulos. João (agora incluindo o capítulo 21, geralmente considerado um apêndice) menciona avistamentos na Galileia e em Jerusalém. Atos fornece uma série mais extensa de aparições do que Lucas, embora seja escrito pelo mesmo autor, mas, assim como Lucas, situa todas essas aparições em ou perto de Jerusalém. A lista de pessoas a quem Jesus apareceu, segundo Paulo, não concorda muito de perto com as outras narrativas (1 Coríntios 15:5–8).

Devido à evidência incerta, é difícil dizer o que realmente aconteceu. Dois pontos são importantes: as fontes descrevem Jesus ressuscitado não como um cadáver ressuscitado, um homem gravemente ferido cambaleando por aí, nem como um fantasma. Segundo Lucas, os dois primeiros discípulos a verem Jesus caminharam com ele por várias horas sem reconhecê-lo (24:13–32). Lucas também relata que Jesus podia desaparecer e reaparecer à vontade (24:31, 36). Para Paulo, os corpos dos crentes cristãos serão transformados para serem semelhantes ao do Senhor, e o corpo ressuscitado não será de “carne e osso” (1 Coríntios 15:42–53). De acordo com esses dois autores, Jesus foi substancialmente transformado, mas não era um fantasma. Lucas afirma isso explicitamente (24:37–39), e Paulo insiste em usar a palavra corpo como parte do termo corpo espiritual, em vez de espírito ou fantasma. Lucas e Paulo não concordam inteiramente, já que Lucas atribui “carne e ossos” ao Jesus ressuscitado (24:39). No entanto, o relato de Lucas exige uma transformação. Os autores, em outras palavras, estavam tentando explicar algo para o qual não tinham um vocabulário preciso, como o termo de Paulo “corpo espiritual” deixa claro.
É difícil acusar essas fontes ou os primeiros crentes de fraude deliberada. Um plano para fomentar a crença na Ressurreição provavelmente teria resultado em uma história mais consistente. Em vez disso, parece ter havido uma competição: “Eu o vi”, “eu também”, “as mulheres o viram primeiro”, “não, eu vi; elas não o viram de jeito nenhum”, e assim por diante. Além disso, alguns dos testemunhas da Ressurreição dariam suas vidas por sua crença. Isso também torna a fraude improvável.
As incertezas são substanciais, mas, dadas as narrativas nessas fontes, a certeza é inalcançável. Podemos dizer sobre as experiências dos discípulos com a Ressurreição aproximadamente o que as fontes nos permitem dizer sobre a vida e a mensagem de Jesus: temos um conhecimento geral bastante bom, embora muitos detalhes sejam incertos ou duvidosos.
A imagem de Cristo na igreja primitiva: O Credo dos Apóstolos
Mesmo antes de os Evangelhos serem escritos, os cristãos estavam refletindo sobre o significado do que Jesus tinha sido e do que ele tinha dito e feito. Portanto, é um erro supor que tal reflexão é uma adição posterior à simples mensagem dos Evangelhos. Pelo contrário, as comunidades cristãs primitivas estavam envolvidas em testemunho e adoração desde o início. As formas desse testemunho e adoração também eram as formas das narrativas nos relatos dos Evangelhos. A partir desse fato, segue-se que, para entender os relatos dos Evangelhos sobre Jesus, devemos considerar a fé da igreja primitiva em relação a Cristo. Nesse sentido, é válido afirmar que não há distinção entre “o Jesus histórico” e “o Cristo da fé” e que a única maneira de entender o primeiro é por meio do último. A cristologia, a doutrina sobre Cristo, é tão antiga quanto o próprio cristianismo.
Para compreender a fé da igreja primitiva em relação a Cristo, devemos nos voltar para os escritos do Novo Testamento, onde essa fé encontrou expressão. Ela também foi incorporada em confissões ou credos breves, mas essas não foram preservadas para nós em sua forma original completa. O que temos são fragmentos dessas confissões ou credos em vários livros do Novo Testamento, trechos deles em outros documentos cristãos primitivos e formas posteriores deles na teologia e liturgia cristãs. O chamado Credo dos Apóstolos é uma dessas formas posteriores. Ele não alcançou sua forma atual até muito tarde; até que ponto é uma questão controversa. Mas em sua ancestralidade mais antiga, é muito antigo, talvez remontando ao século I. E sua confissão sobre Cristo provavelmente é o núcleo mais antigo ao redor do qual posteriores elaborações foram compostas. Levando em conta tais elaborações posteriores, pode-se dizer que no Credo dos Apóstolos há um resumo conveniente do que a igreja primitiva acreditava sobre Cristo, em meio a toda a variedade de sua expressão e formulação. Os credos eram uma forma para os cristãos explicarem o que queriam dizer com seus atos de adoração. Quando colocavam “Eu creio” ou “Nós cremos” no início do que confessavam sobre Deus e Cristo, queriam dizer que suas declarações repousavam sobre a fé, não apenas sobre a observação.
Pré-existência
A declaração “Eu creio” indicava que Cristo era digno de adoração e fé e que, portanto, ele estava em pé de igualdade com Deus. Em uma data precoce, possivelmente tão cedo quanto as palavras de Paulo no segundo capítulo de Filemom (versículos 6–11), a teologia cristã começou a distinguir três estágios na carreira de Jesus Cristo: sua pré-existência com o Pai antes de todas as coisas; sua Encarnação e humilhação nos “dias de sua carne” (Hebreus 5:7); e sua glorificação, começando com a Ressurreição e continuando para sempre.
Provavelmente, a declaração mais celebrada sobre a pré-existência de Cristo são os versículos iniciais do Evangelho de acordo com João. Lá, Cristo é identificado como a Encarnação da Palavra (Logos) por meio da qual Deus fez todas as coisas no princípio, uma Palavra que existia em relação a Deus antes da Criação. As fontes dessa doutrina foram buscadas na filosofia grega, tanto na fase inicial quanto na tardia, bem como no pensamento judaico de Filo e dos rabinos palestinos. Seja qual for sua origem, a doutrina do Logos em João é distintiva pelo fato de identificar o Logos com uma pessoa histórica específica. Outros escritos do Novo Testamento também ilustram a fé dos primeiros cristãos sobre a pré-existência de Cristo. Os capítulos iniciais de Colossenses e Hebreus falam de Cristo como aquele que preexistia, por meio de quem todas as coisas foram criadas, portanto, como distinto da ordem criada de coisas tanto no tempo quanto na preeminência. A preposição “antes” no primeiro capítulo de Colossenses aparentemente se refere tanto à sua prioridade temporal quanto à sua superioridade. No entanto, antes que qualquer reflexão teológica sobre a natureza dessa pré-existência pudesse encontrar termos e conceitos, os primeiros cristãos estavam adorando Cristo como divino. O trecho de Filemom mencionado acima pode ser uma citação de um hino usado nessa adoração. A reflexão teológica lhes dizia que, se essa adoração era legítima, ele deve ter existido com o Pai “antes de todos os séculos”.
Jesus Cristo
No momento em que o texto do credo foi estabelecido, Jesus Cristo era a designação usual para o Salvador. Originalmente, é claro, Jesus era seu nome dado, significando “Yahweh salva” ou “Yahweh salvará” (Mateus 1:21), enquanto Cristo era a tradução grega do título Messias. Alguns trechos do Novo Testamento ainda usavam Cristo como título (por exemplo, Lucas 24:26; 2 João 7), mas é evidente pelo uso de Paulo que o título se tornou simplesmente um nome próprio muito cedo. A maioria dos gentios passou a considerá-lo um nome próprio, e foi como “cristãos” que os primeiros crentes foram rotulados (Atos 11:26). Na linguagem mais precisa, o termo “Jesus” era reservado para a carreira terrena do Senhor, mas parece, a partir de fontes litúrgicas, que ele pode realmente ter sido dotado de maior solenidade do que o nome “Cristo”. Poucos anos após o início do movimento cristão, os nomes Jesus, Cristo, Jesus Cristo e Cristo Jesus podiam ser usados quase que de forma intercambiável, como indicam as variantes textuais no Novo Testamento. Somente nos tempos modernos se tornou costume distinguir nitidamente entre eles para estabelecer uma linha entre o Jesus histórico e o Cristo da fé, e isso apenas em certos círculos. Os teólogos e pessoas de muitas igrejas ainda usam frases como “a vida de Cristo”, porque “Cristo” é principalmente um nome próprio. É difícil imaginar como poderia ser diferente quando as implicações do Antigo Testamento do título já se tornaram uma consideração secundária em seu uso – um processo já evidente dentro do Novo Testamento.

Filho Unigênito de Deus
Santíssima Trindade
A declaração de que Jesus Cristo é o Filho de Deus é uma das mais universais no Novo Testamento, na qual a maioria dos livros se refere a ele dessa forma. Os Evangelhos não o citam usando o título para si mesmo em palavras tão claras, embora ditos como o versículo 27 do capítulo 11 de Mateus se aproximem disso. Existem algumas instâncias em que o uso dos Evangelhos parece ecoar as implicações mais gerais da filiação divina no Antigo Testamento como uma prerrogativa de Israel ou do verdadeiro crente. Geralmente, no entanto, é evidente que os Evangelistas, como Paulo, queriam significar alguma honra especial pelo nome. Os Evangelistas associaram a honra à história do batismo de Jesus (Mateus 3:17) e à Transfiguração (Mateus 17:5), Paulo com a fé na Ressurreição (Romanos 1:4). A partir dessa associação, alguns argumentam que “Filho de Deus” no Novo Testamento nunca se referiu à preexistência de Cristo. Mas fica claro em João e em Paulo que essa implicação não estava ausente, embora não fosse tão proeminente como se tornou em breve. O que tornou a implicação da preexistência mais proeminente no uso cristão posterior do termo Filho de Deus foi a clarificação da doutrina da Trindade, onde Filho era o nome para a Segunda Pessoa eterna (Mateus 28:19). Como os Evangelhos mostram, a aplicação do nome Filho de Deus a Jesus era ofensiva para os judeus, provavelmente porque parecia cheirar a politeísmo gentio. Isso também o tornou compreensível demais para os pagãos, como indicam as heresias antigas. Enfrentando tanto os judeus quanto os gregos, a igreja apostólica confessou que Jesus Cristo era o “Filho Unigênito de Deus”: o Filho de Deus, em antítese às reivindicações judaicas de que o eterno não poderia ter filhos; o Filho Unigênito, em antítese aos mitos gregos de procriação divina.
“O Senhor”
Como passagens como o quarto versículo do primeiro capítulo de Romanos mostram, a frase “Jesus Cristo, nosso Senhor” era uma das maneiras pela qual a igreja apostólica expressava sua compreensão do que ele havia sido e feito. Lucas até colocou o título na boca do anjo de Natal (Lucas 2:11). Pela forma como o nome “Senhor” (Kyrios) foi empregado durante o século I, é possível perceber várias implicações no uso cristão para Cristo. Os cristãos queriam dizer que não havia muitos seres divinos e senhoriais no universo, mas apenas um Kyrios (1 Coríntios 8:5–6). Eles queriam dizer que o César Romano não era o senhor de tudo, como era chamado por seus adoradores, mas que apenas Cristo era o Senhor (Apocalipse 17:14). Eles queriam dizer que Yahweh, o Deus da aliança do Antigo Testamento, cujo nome eles pronunciavam como “Senhor”, havia vindo em Jesus Cristo para estabelecer a nova aliança (Romanos 10:12–13). Assim como “Filho de Deus”, portanto, o nome Kyrios era direcionado contra ambas as partes da audiência para a qual a igreja primitiva dirigia sua proclamação. Às vezes, ele representava especialmente o Cristo ressuscitado e glorificado (por exemplo, Atos 2:36), mas em passagens que ecoavam o Antigo Testamento, às vezes a preexistência estava sendo enfatizada primariamente (Mateus 22:44). Gradualmente, “nosso Senhor”, assim como “Cristo”, tornou-se uma forma comum de falar sobre Jesus Cristo, mesmo quando o orador não pretendia enfatizar seu senhorio sobre o mundo.

Encarnação e Humilhação de Jesus
Versões anteriores do credo parecem ter lido: “Nascido do Espírito Santo e da Virgem Maria.” A afirmação principal deste artigo é que o Filho de Deus, a Palavra, tornou-se humano ou, como o Evangelho de João colocou, “carne” (João 1:14). A preexistência e a Encarnação pressupõem-se mutuamente na visão cristã de Jesus Cristo. Portanto, o Novo Testamento assumiu sua preexistência quando falou sobre seu tornar-se humano e, quando falou dele como preexistente, estava atribuindo essa preexistência àquele que estava sendo descrito na carne. Pode ser que a referência a Maria no credo tenha sido destinada a enfatizar principalmente sua função como garantia da verdadeira humanidade de Cristo, mas o credo também pretendia ensinar a origem sobrenatural dessa humanidade. Embora seja verdade que nem Paulo nem João façam referência a isso, o ensinamento sobre a concepção virginal de Jesus, aparentemente baseado no versículo 14 do capítulo 7 do Livro de Isaías, era suficientemente difundido no século I para justificar sua inclusão tanto em Mateus quanto em Lucas, bem como em credos que remontam ao século I. Como está, a declaração do credo é uma paráfrase do versículo 35 do primeiro capítulo de Lucas. No Novo Testamento, o Espírito Santo também esteve envolvido no batismo e na Ressurreição de Jesus.
Sofreu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morreu e foi sepultado
Andrea Mantegna: A Crucificação
Andrea Mantegna: A Crucificação
Para um leitor dos Evangelhos, o aspecto mais marcante do credo é provavelmente sua omissão daquilo que ocupou grande parte dos Evangelhos, a história da vida e dos ensinamentos de Jesus. Nesse aspecto, há um paralelo direto entre o credo e as Epístolas do Novo Testamento, especialmente as de Paulo. Julgando pelo espaço dedicado à história da Paixão, até mesmo os escritores dos Evangelhos aparentemente estavam mais interessados nesses poucos dias da vida de Jesus do que em qualquer outra coisa que ele tivesse dito ou feito. A razão para isso era a fé subjacente tanto ao Novo Testamento quanto ao credo, de que os eventos da Paixão, morte e Ressurreição de Jesus foram os eventos pelos quais Deus havia realizado a salvação dos seres humanos. Os Evangelhos encontraram seu clímax nesses eventos, e os outros materiais neles levaram a esses eventos. As Epístolas aplicaram esses eventos a situações concretas na igreja primitiva.

Do modo como Paulo fala sobre a Cruz (Filêmon 2:6-11) e sobre “a noite em que ele [Jesus] foi traído” (1 Coríntios 11:23), parece que antes mesmo dos Evangelhos existirem, a igreja já comemorava os eventos associados ao que viria a ser chamada de Semana Santa. Algumas das primeiras obras de arte cristãs retratavam esses eventos, indicando a importância deles na vida cultual e devocional do cristianismo primitivo. Como a Cruz afetou a salvação dos seres humanos? As respostas do Novo Testamento e da igreja primitiva a essa pergunta envolveram uma variedade de metáforas: Cristo se ofereceu como sacrifício a Deus; sua vida foi um resgate por muitos; sua morte trouxe vida à humanidade; seu sofrimento serviu de exemplo às pessoas quando precisam sofrer; ele foi o Segundo Adão, criando uma nova humanidade; sua morte mostra às pessoas o quanto Deus as ama, entre outras metáforas. Todas as principais teorias da Expiação na história teológica cristã, discutidas abaixo, foram antecipadas por uma ou outra dessas metáforas. O Novo Testamento as utilizou para simbolizar algo que só podia ser descrito simbolicamente, ou seja, que “Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não imputando aos homens as suas transgressões” (2 Coríntios 5:19).
Desceu ao inferno
A frase sobre a descida ao inferno provavelmente foi a última a ser adicionada ao credo. Sua principal fonte no Novo Testamento foi a descrição no terceiro capítulo da Primeira Epístola de Pedro (versículos 18-20) do pregador de Cristo aos espíritos em prisão. Inicialmente, a descida ao inferno pode ter sido identificada com a morte de Cristo, quando ele entrou na morada dos mortos no submundo. Mas, antes de entrar no credo, a descida frequentemente era interpretada como o resgate das almas dos fiéis do Antigo Testamento do submundo, do que a teologia católica ocidental chamou posteriormente de limbo dos patriarcas. Para alguns dos Padres da Igreja, a descida ao inferno significava a declaração de Cristo de seu triunfo sobre os poderes do inferno. No entanto, apesar de sua crescente importância posteriormente, a doutrina da descida ao inferno aparentemente não fazia parte integrante da pregação apostólica sobre Cristo.
Glorificação
Ao terceiro dia ressuscitou dos mortos
Os escritores do Novo Testamento em nenhum momento tornaram a Ressurreição de Cristo uma questão de argumentação, mas sempre a afirmaram e assumiram. Com ela começou aquele estado na história de Jesus Cristo que ainda estava em curso, sua elevação à glória. Eles a usaram como base para três tipos de afirmações. A Ressurreição de Cristo foi a forma como Deus deu testemunho de seu filho, “designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos” (Romanos 1:4); esse tema também foi proeminente nos Atos dos Apóstolos. A Ressurreição foi a base para a esperança cristã na vida após a morte (1 Tessalonicenses 4:14), e Paulo escreveu que sem ela essa esperança seria considerada vazia (1 Coríntios 15:12-20). A Ressurreição de Cristo também foi o fundamento para exortações a manifestar uma “nova vida” (Romanos 6:4) e a “buscar as coisas que são lá do alto” (Colossenses 3:1). Os escritores do Novo Testamento mesmos não expressaram dúvida de que a Ressurreição realmente aconteceu. Mas a discussão de Paulo em 1 Coríntios mostra que, entre aqueles que ouviram a mensagem cristã, havia tal dúvida, bem como esforços para racionalizar a Ressurreição. As diferenças entre os Evangelhos e entre os Evangelhos e Paulo sugerem que, desde o início, existiam várias tradições sobre os detalhes da Ressurreição. No entanto, tais diferenças apenas servem para enfatizar quão universal era a fé na Ressurreição em meio a essa variedade de tradições.
Ele subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso
Conforme indicado anteriormente, a narrativa da Ascensão é peculiar aos textos de Lucas-Atos, mas outras partes do Novo Testamento podem fazer referência a ela. Tal referência pode ser encontrada no quarto capítulo da Carta aos Efésios (versículos 8–10). No entanto, muitos intérpretes sustentam que, para Paulo, a Ressurreição era idêntica à Ascensão. Eles argumentam que é por isso que ele podia falar da aparição do Cristo ressuscitado a ele em continuidade com as aparições aos outros (1 Coríntios 15:5–8), apesar do fato de que, na cronologia do credo, a Ascensão intervém entre eles. A sessão à direita do Pai aparentemente era uma interpretação cristã do primeiro versículo do Salmo 110. Isso implicava a elevação — ou, à medida que a doutrina da preexistência se tornava mais clara, a restauração — de Cristo a uma posição de honra com Deus. Juntas, a Ascensão e a sessão eram uma maneira de falar sobre a presença de Cristo com o Pai durante o intervalo entre a Ressurreição e a Segunda Vinda. Do texto de Efésios, é evidente que essa maneira de falar de forma alguma era inconsistente com outro princípio cristão, a crença de que Cristo ainda estava presente em sua igreja. Na verdade, era a única maneira de afirmar esse princípio em harmonia com a doutrina da Ressurreição.
Dali há de vir para julgar os vivos e os mortos
O credo conclui sua seção cristológica com a doutrina da Segunda Vinda: a Primeira Vinda foi uma encarnação, a Segunda Vinda será em glória. Muita controvérsia entre os estudiosos modernos foi causada pelo papel dessa doutrina na igreja primitiva. Aqueles que afirmam que Jesus erroneamente esperava o fim iminente do mundo frequentemente interpretam Paulo como o primeiro a começar a se ajustar a um adiamento do fim, com o Evangelho de João representando uma etapa mais avançada desse ajuste. Aqueles que acreditam que a iminência do fim era um aspecto contínuo da história humana, como Jesus a via, também afirmam que essa frase do credo era uma declaração dessa iminência, sem necessariamente implicar qualquer cronograma específico. Do Novo Testamento, parece que tanto a esperança da Segunda Vinda quanto a fé na presença contínua de Cristo eram características da perspectiva da igreja apostólica, e parece ser isso que o credo pretendia transmitir. A frase “os vivos e os mortos” é um resumo de passagens sobre a Segunda Vinda em várias das cartas de Paulo, particularmente em 1 Coríntios (15:51–52) e 1 Tessalonicenses (4:15–17).
Para completar a confissão do credo sobre a glorificação de Cristo, o Credo Niceno acrescentou a frase “e o seu reino não terá fim”. Isso era uma declaração de que o retorno de Cristo como juiz inauguraria o pleno exercício de seu reinado sobre o mundo. Tal era a expectativa da igreja apostólica, com base no que ela conhecia e acreditava sobre Jesus Cristo.
O dogma de Cristo nos concílios antigos
As principais linhas do ensinamento cristão ortodoxo sobre a pessoa de Cristo foram estabelecidas no Novo Testamento e nos antigos credos. No entanto, o que estava presente ali de forma germinal tornou-se uma afirmação clara da doutrina cristã quando foi formulado como dogma. De uma forma ou de outra, os quatro primeiros concílios ecumênicos estavam todos preocupados com a formulação do dogma sobre a pessoa de Cristo – sua relação com o Pai e a relação do divino e do humano em Cristo.
Essa formulação tornou-se necessária porque surgiram ensinamentos dentro da comunidade cristã que pareciam ameaçar o que a igreja acreditava e confessava sobre Cristo. Tanto o dogma quanto os ensinamentos heréticos contra os quais o dogma foi direcionado são, portanto, parte da história de Jesus Cristo.
Os Concílios de Niceia e Constantinopla
Primeiras heresias
Desde o início, o cristianismo teve que lidar com aqueles que interpretaram de maneira errada a pessoa e a missão de Jesus. Tanto o Novo Testamento quanto as primeiras confissões da igreja se referiram e responderam a essas interpretações erradas. À medida que o movimento cristão ganhava adeptos do mundo não-judeu, ele precisava explicar Cristo diante de novos desafios.
As interpretações erradas tocaram tanto na questão de sua humanidade quanto na questão de sua divindade. Uma preocupação em proteger a verdadeira humanidade de Jesus levou alguns cristãos primitivos a ensinar que Jesus de Nazaré, um homem comum, foi adotado como Filho de Deus no momento de seu batismo ou após sua Ressurreição; essa heresia era chamada de adocionismo. Gnósticos e outros queriam protegê-lo contra o envolvimento no mundo da matéria, que eles consideravam essencialmente mal, e ensinavam, portanto, que ele tinha apenas um corpo aparente, não real; eles eram chamados de docetas. A maior parte da luta sobre a pessoa de Cristo, no entanto, tratava da questão de sua relação com o Pai. Algumas visões iniciais estavam tão empenhadas em afirmar sua identidade com o Pai que a distinção de sua pessoa foi perdida, e ele se tornou apenas uma manifestação do único Deus. Por causa dessa ideia de Cristo como uma “modalidade” de auto-manifestação divina, os defensores dessa visão foram chamados de “modalistas”; a partir de um apoiador inicial da visão, ela foi chamada de sabelianismo. Outras interpretações da pessoa de Cristo em relação a Deus foram para o extremo oposto. Eles insistiram com tanto afinco na distinção de sua pessoa em relação ao Pai que o subordinaram ao Pai. Muitos defensores iniciais da doutrina do Logos também eram subordinacionistas, de modo que a própria ideia do Logos tornou-se suspeita em alguns lugares. O que era necessário era um conjunto de conceitos para articular a doutrina da unidade de Cristo com o Pai e, ao mesmo tempo, a distinção dele do Pai e, assim, responder à pergunta colocada por Adolf von Harnack:
A Divindade que apareceu na terra e uniu os homens a Deus é idêntica à Divindade suprema que governa o céu e a terra, ou é um semideus?
Niceia
Essa pergunta se impôs à igreja por meio dos ensinamentos de Ário. Ele afirmava que o Logos era o primeiro das criaturas, chamado à existência por Deus como o agente ou instrumento por meio do qual ele faria todas as coisas. Cristo era, portanto, menor do que Deus, mas mais do que um ser humano; ele era divino, mas não era Deus. Para enfrentar o desafio do arianismo, que ameaçava dividir a igreja, o recém-convertido imperador Constantino convocou em 325 o primeiro concílio ecumênico da igreja cristã em Niceia. As opiniões privadas dos bispos presentes estavam longe de ser unânimes, mas a opinião que prevaleceu foi a defendida pelo jovem presbítero Atan
ásio, que mais tarde se tornou bispo de Alexandria. O Concílio de Niceia determinou que Cristo era “gerado, não criado”, portanto, não era uma criatura, mas criador. Também afirmou que ele era “da mesma substância que o Pai” (homoousios to patri). Dessa forma, deixou claro sua oposição básica ao subordinacionismo, embora pudesse haver, e houve, disputas sobre detalhes. Não ficou igualmente claro como a posição de Niceia e de Atanásio diferia do modalismo. Atanásio afirmou que não era o Pai nem o Espírito Santo, mas apenas o Filho que se tornou incarnado como Jesus Cristo. Mas para afirmar isso, ele precisava de uma terminologia mais adequada sobre as pessoas na Santíssima Trindade. Assim, o acordo em Niceia sobre a pessoa de Cristo tornou necessária uma clarificação mais completa da doutrina da Trindade, e essa clarificação, por sua vez, possibilitou uma declaração mais completa da doutrina da pessoa de Cristo.
Constantinopla
Niceia não pôs fim às controvérsias, apenas deu às partes um novo ponto de apoio. O debate doutrinário foi complicado pela rivalidade entre bispos e teólogos, bem como pela intrusão da política imperial que começara em Niceia. Das controvérsias pós-nicenas surgiu uma declaração mais completa da doutrina da Trindade que era necessária para proteger a fórmula de Niceia contra a acusação de não distinguir adequadamente entre o Pai e o Filho. Ratificado no Concílio de Constantinopla em 381, mas desde então perdido, essa declaração aparentemente oficializou a terminologia desenvolvida pelos defensores da ortodoxia nicena no meio do século IV: uma substância divina, três pessoas divinas (mia ousia, treis hypostaseis). As três pessoas – Pai, Filho e Espírito Santo – eram distintas uma da outra, mas eram iguais em sua eternidade e poder. Agora era possível ensinar, como Niceia fez, que Cristo era “da mesma substância que o Pai” sem despertar a suspeita de modalismo. Embora a doutrina parecesse tornar problemática a unidade de Deus, ela forneceu uma resposta à primeira das duas questões enfrentadas pela igreja em sua doutrina sobre a pessoa de Cristo – a questão da relação de Cristo com o Pai. Tornou-se então necessário esclarecer a segunda questão – a relação do divino e do humano em Cristo.
Os Concílios de Éfeso e Calcedônia
Ao excluir várias posições extremas do círculo da ortodoxia, a formulação da doutrina da Trindade no século IV determinou o curso da discussão subsequente sobre a pessoa de Cristo. Também forneceu a terminologia para essa discussão, já que os teólogos do século V puderam descrever a relação entre o divino e o humano em Cristo por analogia à relação entre o Pai e o Filho na Trindade. O termo que foi encontrado para expressar essa relação em Cristo foi “physis”, “natureza”. Havia três pessoas divinas em uma essência divina; esse foi o resultado das controvérsias do século IV. Mas também havia duas naturezas, uma delas divina e a outra humana, na única pessoa de Jesus Cristo. Sobre a relação entre essas duas naturezas, os teólogos do século V travaram sua controvérsia.
As questões abstratas com as quais às vezes lidavam nessa controvérsia, algumas delas quase ininteligíveis para uma mente moderna, não devem obscurecer o fato de que uma questão fundamental da fé cristã estava em jogo: Como Jesus Cristo pode ser dito participar tanto da identidade com Deus quanto da comunhão com a humanidade?
As Partes
Durante o meio século após o Concílio de Constantinopla, vários pontos importantes de ênfase se desenvolveram na doutrina da pessoa de Cristo. Caracteristicamente, esses geralmente são definidos pela sé episcopal que os defendeu. Havia uma maneira de falar sobre Cristo que era característica da sé de Alexandria. Ela enfatizava
o caráter divino de tudo o que Jesus Cristo havia sido e feito, mas seus inimigos a acusavam de absorver a humanidade de Cristo em sua divindade. O modo de pensar e a linguagem empregados em Antioquia, por outro lado, enfatizavam a verdadeira humanidade de Cristo, mas seus oponentes afirmavam que, ao fazer isso, haviam dividido Cristo em duas pessoas, cada uma das quais mantinha sua individualidade enquanto agiam em concerto uma com a outra. A teologia ocidental não era tão abstrata quanto qualquer uma dessas alternativas. Seu foco central era uma preocupação prática pela salvação humana e por uma solução tão pacífica quanto possível para o conflito sem sacrificar essa preocupação. Mais do que no século IV, considerações de política imperial estavam sempre envolvidas nas ações conciliares, juntamente com o medo em países como o Egito de que Constantinopla pudesse vir a dominá-los. Assim, uma decisão sobre a relação entre o divino e o humano em Cristo poderia ser simultaneamente uma decisão sobre a situação política. No entanto, os acordos aos quais os concílios do século V chegaram podem e são considerados normativos na igreja muito tempo depois que seu contexto político desapareceu.
O conflito entre Alexandria e Antioquia atingiu seu auge quando Nestório, discordando do uso do título “Mãe de Deus” ou, mais literalmente, “Portadora de Deus” (Theotokos) para a Virgem Maria, insistiu que ela era apenas “Portadora de Cristo”. Nessa insistência, a ênfase Antioquiana na distinção entre as duas naturezas em Cristo fez-se ouvir em toda a igreja. Os teólogos de Alexandria responderam acusando Nestório de dividir a pessoa de Cristo, que eles representavam como completamente unida, de acordo com a famosa frase de Cirilo: havia “uma natureza do Logos que se tornou encarnada”. Com isso, ele queria dizer que havia apenas uma natureza, a divina, antes da Encarnação, mas que após a Encarnação existiam duas naturezas indissoluvelmente unidas em uma pessoa; a natureza humana de Cristo nunca teve uma existência independente. Houve momentos em que Cirilo parecia estar dizendo que havia “uma natureza do Logos encarnado” mesmo após a Encarnação, mas suas formulações mais precisas evitavam essa linguagem.
O Concílio de Éfeso em 431 foi um dos encontros em uma série de reuniões convocadas para resolver esse conflito, algumas por uma das partes e outras pela outra. No entanto, o acordo efetivo não foi alcançado até que o Concílio de Calcedônia fosse convocado em 451.
O acordo em Calcedônia
A base do acordo em Calcedônia foi a compreensão ocidental das duas naturezas em Cristo, conforme formulada no Tomo do Papa Leão I de Roma. Calcedônia declarou:
“Nós todos ensinamos unanimemente… um e o mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito em divindade e perfeito em humanidade… em duas naturezas, sem ser misturadas, transmutadas, divididas ou separadas. A distinção entre as naturezas de modo algum é abolida pela união, mas, ao contrário, a identidade de cada natureza é preservada e concorre para uma pessoa e ser.”
Nessa fórmula, as ênfases válidas tanto de Alexandria quanto de Antioquia encontraram expressão; tanto a unidade da pessoa quanto a distinção das naturezas foram afirmadas. Portanto, a decisão do Concílio de Calcedônia tem sido a declaração básica da doutrina da pessoa de Cristo para a maior parte da igreja desde então. A igreja ocidental passou a dar mais atenção à doutrina da obra de Cristo. Na igreja oriental, os Alexandrinos e os Antioquianos continuaram as controvérsias que precederam Calcedônia, mas agora eles se chocaram sobre a questão de como interpretar Calcedônia. A controvérsia foi um esforço para esclarecer a interpretação de Calcedônia, com o resultado de que os extremos da posição Alexandrina foram condenados, assim como o extremo Nestoriano do Antioquiano. A posição Alexandrina era conhecida na igreja ocidental como a heresia do monofisismo, ou o ensino de que Jesus tinha apenas uma natureza divina, até o século XX.
Saindo de toda essa discussão teológica foi uma interpretação da pessoa de Cristo que afirmava tanto sua unidade com Deus quanto sua unidade com a humanidade, ao mesmo tempo mantendo a unidade de sua pessoa. Curiosamente, as liturgias da igreja mantiveram essa interpretação em um momento em que os teólogos da igreja ainda estavam lutando para clareza, e a solução final foi uma reformulação cientificamente precisa do que havia estado presente germinalmente na piedade litúrgica da igreja. Na fórmula de Calcedônia, essa solução finalmente encontrou o quadro de conceitos e vocabulário de que precisava para se tornar intelectualmente consistente. De certa forma, portanto, o que Calcedônia formulou era o que os cristãos vinham acreditando desde o início, mas, por outro lado, representava um desenvolvimento a partir das etapas iniciais do pensamento cristão.
A interpretação de Cristo na fé e no pensamento ocidentais
Com a determinação do ensinamento ortodoxo da igreja sobre a pessoa de Cristo, ainda era necessário esclarecer a doutrina da obra de Cristo. Embora tenha sido principalmente no Oriente que a discussão sobre a primeira pergunta foi conduzida – embora com importantes contribuições do Ocidente – foi a igreja ocidental que forneceu respostas mais detalhadas à pergunta, concedido que isso é o que Jesus Cristo era, como devemos descrever o que ele fez?
Doutrinas da pessoa e obra de Cristo
O porta-voz mais representativo da igreja ocidental sobre essa questão, como sobre a maioria das outras, foi Santo Agostinho. Sua compreensão profunda do significado do pecado humano foi igualada por sua atenção detalhada ao significado da graça divina. Central para essa atenção estava seu ênfase na humanidade de Jesus Cristo como a garantia da salvação humana, uma ênfase à qual ele deu voz de várias maneiras. A humanidade de Cristo mostrou como Deus elevou o humilde; era o elo entre a natureza física dos seres humanos e a natureza espiritual de Deus; era o sacrifício que a humanidade ofereceu a Deus; era o fundamento de uma nova humanidade, recriada em Cristo, assim como a antiga humanidade tinha sido criada em Adão – nessas e em outras maneiras, Agostinho procurou descrever a importância da Encarnação para a redenção humana. Ao combinar esse destaque na humanidade de Cristo como o Salvador com uma doutrina da Trindade que era ortodoxa, mas ainda assim altamente criativa e original, Santo Agostinho deixou sua marca de forma indelével na piedade e teologia ocidentais, que, em Anselmo e nos reformadores, buscaram por uma linguagem adequada para descrever o feito de reconciliação de Deus em Jesus Cristo.
Durante os séculos formativos do dogma cristão, houve muitas maneiras de descrever essa reconciliação, a maioria delas tendo algum precedente no discurso bíblico. Uma das imagens mais proeminentes da reconciliação estava ligada à metáfora bíblica do resgate: Satanás mantinha a raça humana cativa em seu pecado e corrupção, e a morte de Cristo era o resgate pago ao Diabo como preço para libertar a humanidade. Uma metáfora relacionada era a vitória de Cristo: Cristo entrou em combate mortal com Satanás pela raça humana, e o vencedor seria senhor; embora a Crucificação parecesse ser a capitulação de Cristo ao inimigo, sua Ressurreição quebrou o poder do Diabo e deu a vitória a Cristo, concedendo à humanidade o dom da imortalidade. Do Antigo Testamento e da Epístola aos Hebreus veio a imagem de Cristo como a vítima sacrificial oferecida a Deus como meio de aplacar a ira divina. Do sacramento da penitência veio a ideia, mais plenamente desenvolvida por Santo Anselmo, de que a morte de Cristo foi uma satisfação vicária prestada para a humanidade. Como no Novo Testamento, os Padres da Igreja podiam advertir seus ouvintes a aprender com a morte de Cristo como sofrer pacientemente. Eles também podiam apontar para o sofrimento e morte de Cristo como a ilustração suprema de quanto Deus ama a humanidade. Como no Novo Testamento, portanto, na tradição da igreja, havia muitas figuras de linguagem para representar o milagre da união entre os seres humanos e Deus efetuada no Deus-homem Jesus Cristo.
Comum a todas essas figuras de linguagem era o desejo de fazer duas coisas simultaneamente: enfatizar que a reconciliação era um ato de Deus e salvaguardar a participação da humanidade nesse ato. Algumas teorias eram tão “objetivas” em seu ênfase na iniciativa divina que a humanidade parecia ser quase um peão na transação entre Deus em Cristo e o Diabo. Outras teorias se concentravam tão “subjetivamente” na atenção à participação e resposta humanas que o escopo completo da redenção podia desaparecer de vista. Foi em Anselmo de Cantuária que a Cristandade ocidental encontrou um teólogo que poderia reunir elementos de muitas teorias em uma doutrina da Expiação, resumida em seu livro, “Cur Deus Homo?” (Por que Deus se fez homem?). De acordo com essa doutrina, o pecado era uma violação da honra de Deus. Deus ofereceu aos seres humanos a vida se eles prestassem satisfação por essa violação, mas quanto mais uma pessoa vivia, pior a situação se tornava. Somente uma vida que fosse verdadeiramente humana e ainda tivesse valor infinito teria sido suficiente para dar uma tal satisfação à honra violada de Deus em nome de toda a raça humana. Tal vida era a de Jesus Cristo, que a misericórdia de Deus enviou como um meio de satisfazer a justiça de Deus. Por ser verdadeiramente humano, sua vida e morte poderiam ser válidas para todos os seres humanos, e, por ser verdadeiro Deus, sua vida e morte poderiam ser válidas para toda a humanidade. Ao aceitar os frutos de sua vida e morte, a humanidade poderia receber os benefícios de sua satisfação. Com algumas alterações relativamente pequenas, a doutrina da Expiação de Anselmo passou para a teologia da igreja latina, formando a base das ideias católicas romanas e protestantes ortodoxas sobre a obra de Cristo. Sua aceitação se deveu a muitos fatores, sendo um dos principais o modo como ela se encaixava com a liturgia e a arte do Ocidente. O crucifixo tornou-se o símbolo tradicional de Cristo na igreja ocidental, reforçando e sendo reforçado pela teoria da Expiação como vitória de Cristo sobre seus inimigos.
Portanto, a teologia escolástica não modificou maneiras tradicionais de falar tanto sobre a pessoa quanto sobre a obra de Cristo quanto fez, por exemplo, algumas das maneiras como os Padres da Igreja haviam falado sobre a presença do corpo e do sangue de Cristo na Eucaristia. A principal contribuição do período escolástico para a concepção cristã de Jesus Cristo parece residir na maneira como ele conseguiu combinar elementos teológicos e místicos. Ao lado do crescimento do dogma cristológico e, às vezes, em aparente competição com ele, houve o desenvolvimento de uma visão de Cristo que buscava união pessoal com ele em vez de conceitos precisos sobre ele. Essa visão de Cristo aparecia ocasionalmente nos escritos de Agostinho, mas era em homens como Bernardo de Claraval que ela atingia tanto sua expressão mais plena quanto sua harmonização mais adequada com a visão dogmática. A relação entre as naturezas divina e humana em Cristo, como formulada no dogma antigo, fornecia ao místico a escada necessária para ascender através do Jesus humano ao Filho eterno de Deus e por meio dele a uma união mística com a Santíssima Trindade; isso havia sido antecipado na teologia mística de alguns dos Padres gregos. Ao mesmo tempo, o dogma salvou o misticismo dos excessos panteístas aos quais ele poderia ter ido, pois a doutrina das duas naturezas significava que a humanidade do Senhor não era um elemento dispensável na piedade cristã, mística ou não, mas seu pressuposto indispensável e o objeto contínuo de sua adoração, em união com sua divindade. De fato, outra contribuição do desenvolvimento medieval foi a ênfase crescente de São Francisco de Assis e seus seguidores na vida humana de Jesus. Essas fraternidades cultivavam uma versão mais prática e ética da devoção mística, a ser distinguida do misticismo especulativo e contemplativo. Seu tema tornou-se a imitação de Cristo em uma vida de humildade e obediência. Com isso, veio uma nova apreciação da verdadeira humanidade de Cristo, que o dogma de fato afirmara, mas que os teólogos estavam em perigo de reduzir a um mero conceito dogmático. Como sugeriram Henry Thode e outros, essa nova apreciação é refletida na maneira como pintores como Giotto começaram a retratar Jesus, em contraste com seus predecessores ocidentais e especialmente a imagem estilizada de Cristo na pintura de ícones bizantinos.
A Reforma e o Protestantismo clássico
A atitude dos reformadores em relação às concepções tradicionais da pessoa e obra de Cristo foi conservadora. Insistindo por razões tanto religiosas quanto políticas que eram ortodoxos, eles alteraram pouco o dogma cristológico. Martinho Lutero e João Calvino deram ao dogma um novo significado quando o relacionaram com sua doutrina da justificação pela graça mediante a fé. Por causa de sua interpretação do pecado como a catividade da vontade, Lutero também reviveu a metáfora patrística da Expiação como a vitória de Cristo; é característico dele ter escrito hinos tanto para o Natal quanto para a Páscoa, mas não para a Quaresma. A nova atenção à Bíblia que veio com a Reforma criou interesse pela vida terrena de Jesus, enquanto a ideia reformada de “somente a graça” e da soberania de Deus mesmo em sua graça tornou a divindade de Cristo uma questão de importância contínua.
Nas ideias sobre a Ceia do Senhor apresentadas por Huldrych Zwingli, Lutero pensou ter visto uma ameaça ao dogma cristológico ortodoxo, e ele denunciou veementemente essas doutrinas. Conforme essa controvérsia progrediu, Lutero interpretou o dogma antigo das duas naturezas como significando que a onipresença da natureza divina foi comunicada à natureza humana de Cristo e que, portanto, Cristo como Deus e ser humano estava presente em todos os lugares e em todos os momentos. Embora ele tenha repudiado tanto as teorias de Lutero quanto as de Zwingli, Calvino foi persuadido de que o antigo dogma cristológico estava de acordo com o testemunho bíblico, e ele não permitiu nenhuma desvio dele. Tudo isso é evidência para a importância de “Jesus Cristo, verdadeiro Deus gerado pelo Pai desde a eternidade e também verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria”, para usar a fórmula de Lutero, na fé e teologia de todos os reformadores.
Em um ponto, a teologia dos reformadores realmente serviu para unir vários aspectos das descrições bíblicas e patrísticas de Jesus Cristo. Esse foi o ensino do triplo ofício de Cristo, sistematizado por Calvino e desenvolvido mais plenamente na ortodoxia protestante: Cristo como profeta, sacerdote e rei. Cada um desses simbolizava o cumprimento do Antigo Testamento e representava um aspecto da vida continuada da igreja. Cristo como profeta cumpriu e elevou a tradição profética do Antigo Testamento enquanto continuava a cumprir seu ofício profético no ministério da Palavra. Cristo como sacerdote pôs fim ao sistema sacrificial do Antigo Testamento ao ser tanto o sacerdote quanto a vítima,ao mesmo tempo em que representava continuamente o povo de Deus perante o Pai no céu. Cristo como rei não só cumpriu a esperança messiânica do Antigo Testamento, mas também governou a igreja em nome de Deus, representando Deus enquanto aguardava o retorno de Cristo para consumar o reino de Deus na terra. Portanto, cada uma dessas imagens de Cristo, que podiam ser encontradas na tradição judaica e na patrística, foi agora levada de volta para a tradição bíblica e até mesmo para o Antigo Testamento em uma maneira que não tinha sido feita tão plenamente desde os primeiros séculos da igreja.
Com o Iluminismo, a concepção tradicional de Jesus Cristo foi questionada, às vezes de maneiras que eram verdadeiramente blasfemas e anticristãs. Mas também houve esforços para mostrar a maneira pela qual a figura de Jesus Cristo tinha sido distorcida pela mitologia e superstições da igreja. Uma das figuras proeminentes aqui foi Hermann Samuel Reimarus, cuja crítica à superstição e à tradição irracional era tão destrutiva da ortodoxia luterana quanto das práticas romanistas. Sua crítica das distorções da igreja foi encontrada em alguns aspectos paralela àquelas do deísmo britânico e do racionalismo continental. Com o Romantismo, a imagem tradicional de Jesus Cristo foi recuperada, mas não sem opositores nem críticos, tanto dentro quanto fora da igreja.
Desenvolvimentos do século XIX
A crítica histórica do Novo Testamento
Na segunda metade do século XIX, surgiram métodos críticos de investigação histórica que minaram a aceitação comum da precisão histórica da Bíblia e da ortodoxia tradicional do Jesus da história. Uma das figuras proeminentes neste movimento foi David Friedrich Strauss, cujo trabalho “A Vida de Jesus, Crítica da História e da Fé” (1835) argumentava que a narrativa dos Evangelhos era uma mistura confusa de histórias reais e mitos, e que a tarefa do historiador era separar o mito da realidade.
Outro importante estudioso desse período foi Albert Schweitzer, que argumentou em seu livro “A Busca do Jesus Histórico” (1906) que a busca pelos detalhes históricos da vida de Jesus era fútil, porque os Evangelhos não podiam fornecer uma imagem precisa de quem Jesus realmente era. Ele afirmou que os Evangelhos retratavam Jesus como um apocalíptico radical que acreditava que o fim do mundo estava próximo, e que o ministério de Jesus deve ser compreendido no contexto de suas crenças apocalípticas.
A crítica histórica do Novo Testamento continuou a se desenvolver ao longo do século XX, com estudiosos como Rudolf Bultmann, que argumentou que a linguagem e os conceitos dos Evangelhos estavam enraizados em uma cosmovisão pré-científica que era incompatível com a compreensão moderna do mundo. Bultmann propôs a “desmitologização” dos Evangelhos, onde os elementos sobrenaturais e míticos seriam interpretados simbolicamente, a fim de tornar a mensagem de Jesus relevante para o mundo moderno.
Os debates contemporâneos
A compreensão de Jesus Cristo continua sendo um tema central de debate no cristianismo contemporâneo. As interpretações variam amplamente, desde a visão tradicional da igreja como o Filho de Deus encarnado, até interpretações mais simbólicas e não literalistas que veem Jesus como um grande mestre moral e símbolo do amor e da compaixão.
Dentro do cristianismo, diferentes tradições e denominações têm abordagens variadas para entender a pessoa de Jesus Cristo. O cristianismo ortodoxo, católico romano e muitas denominações protestantes tradicionais mantêm a visão trinitária da divindade e afirmam a plena divindade e plena humanidade de Jesus Cristo. No entanto, existem diferenças nas ênfases teológicas e litúrgicas entre essas tradições.
Em contraste, algumas correntes do cristianismo liberal e do cristianismo pós-moderno tendem a adotar interpretações mais figurativas e simbólicas de Jesus, enfocando seus ensinamentos éticos e morais em vez de sua natureza divina ou milagres. Para essas perspectivas, a compreensão de Jesus é frequentemente influenciada pelas ciências sociais, pela crítica literária e pelos estudos culturais, e Jesus é visto como uma figura histórica cujas palavras e ações foram registradas e interpretadas pelos escritores dos Evangelhos em um contexto específico e cultural.
Além das fronteiras do cristianismo, Jesus Cristo é uma figura de interesse em outras religiões e tradições espirituais. O Islã, por exemplo, considera Jesus (Isa em árabe) um dos grandes profetas, mas não o Filho de Deus. Em algumas tradições esotéricas e espirituais, Jesus é visto como um mestre iluminado e uma presença espiritual significativa.
Em resumo, a compreensão de Jesus Cristo continua sendo um tema complexo e multifacetado que é abordado de maneiras diversas e profundamente influenciado pela teologia, pela história, pela cultura e pelas crenças individuais. As interpretações de Jesus variam amplamente dentro do cristianismo e também entre outras tradições religiosas e filosóficas, refletindo a riqueza e a complexidade das crenças humanas em todo o mundo.

Sofia Malta é uma entusiasta incansável na busca por artigos que desvendem a profunda sabedoria e impacto de Jesus em nossa vida. Sua paixão por descobrir novas perspectivas e insights sobre o mestre divino é verdadeiramente inspiradora.